terça-feira, junho 28, 2005
Ao Bruno Sena Martins. Dois aninhos de Registos confessionais, pseudo-antropologicos e quasi-antropologicos. Cheers!
Hard Love
A grande June Tabor na jukebox.
Hard Love
(Bob Franke)
I remember growing up like it was only yesterday
Mom and Daddy tried so hard to guide me on my way
But the hard times and the liquor drove the easy love away
And the only love I knew about was hard love
It was hard love every hour of the day
When Christmas to my birthday was a million years away
And the fear that came between them drove the tears into my play
There was love in daddy's house, but it was hard love
I recall the gentle courtesy you showed me as I tried
To dissemble in politeness all the love I felt inside
And for every song of laughter was another song that cried
This ain't no easy weekend, this is hard love
It was hard love every step of the way
Hard to be so close to you, so hard to turn away
And when all the stars and sentimental songs dissolved away
There was nothing left to sing about but hard love
So I loved you for your courage and your gentle sense of shame
And I loved you for your language and your laughter and your name
And I knew it was impossible but I loved you just the same
Though the only love I gave to you was hard love
It was hard love, it was hard on you, I know
When the only love I gave to you was the love I couldn't show
You forgave the heart that loved you as your lover turned to go
Leaving nothing but the memory of hard love
Now I'm standing in this phone booth with a dollar and a dime
Wondering what to say to you to ease your troubled mind
For the Lord's cross might redeem us but our own just waste our time
And to tell the two apart is always hard love
So I'll tell you that I love you even though you're far away
I'll tell you how you change me as I live from day to day
How you helped me to accept myself, and I won't forget to say
Love is never wasted even when it's hard love
It's hard love, but it's love just the same
Not the stuff of fantasy, but more than just a game
And the only kind of miracle that's worthy of the name
For the love that heals our lives is mostly hard love

Hard Love
(Bob Franke)
I remember growing up like it was only yesterday
Mom and Daddy tried so hard to guide me on my way
But the hard times and the liquor drove the easy love away
And the only love I knew about was hard love
It was hard love every hour of the day
When Christmas to my birthday was a million years away
And the fear that came between them drove the tears into my play
There was love in daddy's house, but it was hard love
I recall the gentle courtesy you showed me as I tried
To dissemble in politeness all the love I felt inside
And for every song of laughter was another song that cried
This ain't no easy weekend, this is hard love
It was hard love every step of the way
Hard to be so close to you, so hard to turn away
And when all the stars and sentimental songs dissolved away
There was nothing left to sing about but hard love
So I loved you for your courage and your gentle sense of shame
And I loved you for your language and your laughter and your name
And I knew it was impossible but I loved you just the same
Though the only love I gave to you was hard love
It was hard love, it was hard on you, I know
When the only love I gave to you was the love I couldn't show
You forgave the heart that loved you as your lover turned to go
Leaving nothing but the memory of hard love
Now I'm standing in this phone booth with a dollar and a dime
Wondering what to say to you to ease your troubled mind
For the Lord's cross might redeem us but our own just waste our time
And to tell the two apart is always hard love
So I'll tell you that I love you even though you're far away
I'll tell you how you change me as I live from day to day
How you helped me to accept myself, and I won't forget to say
Love is never wasted even when it's hard love
It's hard love, but it's love just the same
Not the stuff of fantasy, but more than just a game
And the only kind of miracle that's worthy of the name
For the love that heals our lives is mostly hard love

Deslarguem-me!
Ana ‘virgula’ Drago afirmou, no Parlamento, que ”não houve arrastão, houve talvez furtos, mas o que aconteceu foi uma fuga de jovens de uma carga policial indiscriminada.”
Resumindo:
1. Não houve arrastão;
2. Houve talvez furtos (coisa, como se sabe, menor);
3. Os jovens só correram porque fugiam de um bando de polícias insanos que resolveu carregar, indiscriminadamente, sobre a populaça;
4. Os culpados são os polícias, que perturbaram o que parecia ser um dia calmo e ordeiro em Carcavelos.
Parece que os estou a ouvir:
1.º Jovem: Man, vem aí a bófia!
2.º Jovem: Fónix, mano, um gajo já nem na praia pode estar…
1.º Jovem: Corre, man!
2.º Jovem (já a correr): Já agora, vai lá estendendo os bracinhos a ver se apanhas qualquer coisa.
1.º Jovem (a correr): O quê, Bro?
2.º Jovem: Umas malas ou umas tupperwares que a velha não assistiu à última reunião do grupo.
1.º Jovem: Pois, assim com'assim…
Resumindo:
1. Não houve arrastão;
2. Houve talvez furtos (coisa, como se sabe, menor);
3. Os jovens só correram porque fugiam de um bando de polícias insanos que resolveu carregar, indiscriminadamente, sobre a populaça;
4. Os culpados são os polícias, que perturbaram o que parecia ser um dia calmo e ordeiro em Carcavelos.
Parece que os estou a ouvir:
1.º Jovem: Man, vem aí a bófia!
2.º Jovem: Fónix, mano, um gajo já nem na praia pode estar…
1.º Jovem: Corre, man!
2.º Jovem (já a correr): Já agora, vai lá estendendo os bracinhos a ver se apanhas qualquer coisa.
1.º Jovem (a correr): O quê, Bro?
2.º Jovem: Umas malas ou umas tupperwares que a velha não assistiu à última reunião do grupo.
1.º Jovem: Pois, assim com'assim…
“O que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros?”
Nada. Para além de um livro, agora até já tem drama de cabidela. O que não deixa de ser salutar. Estas coisas são óptimas para animar uma blogosfera que se quer pungente, polémica, delirante, terra-a-terra. De paninhos quentes e falinhas mansas está a imprensa dita séria cheia. Pela minha parte, sugeria o seguinte:
1.º Desmembramento/dissolução do Barnabé;
2.º Criação de vários Barnabés: o ‘Original Blend Barnabé’ de Daniel Oliveira; o ‘Worthwhile Barnabé’ de Rui Tavares e Pedro Oliveira; o ‘Stylish Barnabé’ de Celso Martins; o ‘Light Barnabé Bastardo’ de Bruno Cardoso Reis. E por aí fora. A malta, depois, era só escolher.
PS: Devo, contudo, dizer que não me agrada nada o tom definitivo dos últimos posts, que prenuncia uma acalmia generalizada dos ânimos. Meus senhores: como é que é? Na televisão não está a dar nada de jeito.
1.º Desmembramento/dissolução do Barnabé;
2.º Criação de vários Barnabés: o ‘Original Blend Barnabé’ de Daniel Oliveira; o ‘Worthwhile Barnabé’ de Rui Tavares e Pedro Oliveira; o ‘Stylish Barnabé’ de Celso Martins; o ‘Light Barnabé Bastardo’ de Bruno Cardoso Reis. E por aí fora. A malta, depois, era só escolher.
PS: Devo, contudo, dizer que não me agrada nada o tom definitivo dos últimos posts, que prenuncia uma acalmia generalizada dos ânimos. Meus senhores: como é que é? Na televisão não está a dar nada de jeito.
Correio
Do leitor José Carmo da Rosa:
Caríssimo desconhecido,
Não sei quem foi o autor deste artigo (doppelganger de 23.6.2005), não está assinado [está assinado, sim senhor!] e isso irrita-me quanto baste, mas tenho que – in casu Cunhal - reconhecer que faço minhas as palavras do autor, e que além disso está muito bem escrito. Os meus parabéns.
Eu também faço parte dos fracos que pensam que “"acreditar numa coisa toda a vida" poderia ser sinónimo de muita coisa (casmurrice, coerência, estupidez, ignorância, determinação, fanatismo, etc.) mas não necessariamente de "virtude"”.
Fui católico dos 7 aos 12 anos, Benfiquista entre os 12 e os 18, marxista dos 19 aos 28, mas a leitura do 'Animal farm' do G. Orwell deixou-me muito abalado e o golpe de misericórdia foi dado, anos mais tarde, pelo 'Wild Swans' da Jung Chang.
Ainda participei na grande manifestação (550 mil pessoas) que teve lugar em Haia (Holanda), a 29 de Outubro de 1983, contra a colocação na Europa pela Nato de mísseis intercontinentais (Purshings, se não me engano). Hoje envergonho-me, como pude ser tão estúpido, o Reagan é que tinha razão... Não fosse ele, ainda hoje estariam os camaradas-não-tão-coerentes-como-o-Álvaro-Cunhal a padecer no Gulag ou esquecidos em alguma 'Psikucha'.
Resumindo, o doutor Álvaro Cunhal é o doutor Oliveira Salazar da esquerda. Eles são até muito parecidos em carácter, ambos o protótipo do Beirão casmurro, intolerante, chato, beato e intelectualmente (além de medíocres) desonestos, o que é bem maisgrave. E a única razão porque o doutor Cunhal não fez tão mal ao país quanto o doutor Oliveira Salazar, foi ele nunca ter tido o poder absoluto.
Mas também acho que deveríamos reconhecer que os esquerdistas eram, sobretudo no tempo da ditadura, muitas vezes, do melhor que o nosso jardim à beira-mar plantado podia oferecer em termos de generosidade e idealismo, que na altura resumíamos (eu também era esquerdista) com esta bela mas críptica expressão: é um bacano da corda…
Mas isto é apenas uma constatação que a decência intelectual me obriga a dizer, e é evidente que isto como contribuição para a prosperidade do país ‘ça na mange pas de pain’, como dizem os franceses (desculpem-me lá o galicismo mas são 1,30 da matina e não me consigo lembrar de algo melhor). Como ia dizendo, este reconhecimento das superiores qualidades morais (porque não!) dos nossos esquerdistas em geral, e comunistas em particular, não adianta nem atrasa. Porquê? Porque – como um pólo positivo anula o pólo negativo - precisamente na mesma altura, o mesmo tipo de gente, com as mesmas qualidades morais e com os mesmos problemas, se encontrava do outro lado da cortina de ferro.
Carmo da Rosa (Amesterdão)
Caríssimo desconhecido,
Não sei quem foi o autor deste artigo (doppelganger de 23.6.2005), não está assinado [está assinado, sim senhor!] e isso irrita-me quanto baste, mas tenho que – in casu Cunhal - reconhecer que faço minhas as palavras do autor, e que além disso está muito bem escrito. Os meus parabéns.
Eu também faço parte dos fracos que pensam que “"acreditar numa coisa toda a vida" poderia ser sinónimo de muita coisa (casmurrice, coerência, estupidez, ignorância, determinação, fanatismo, etc.) mas não necessariamente de "virtude"”.
Fui católico dos 7 aos 12 anos, Benfiquista entre os 12 e os 18, marxista dos 19 aos 28, mas a leitura do 'Animal farm' do G. Orwell deixou-me muito abalado e o golpe de misericórdia foi dado, anos mais tarde, pelo 'Wild Swans' da Jung Chang.
Ainda participei na grande manifestação (550 mil pessoas) que teve lugar em Haia (Holanda), a 29 de Outubro de 1983, contra a colocação na Europa pela Nato de mísseis intercontinentais (Purshings, se não me engano). Hoje envergonho-me, como pude ser tão estúpido, o Reagan é que tinha razão... Não fosse ele, ainda hoje estariam os camaradas-não-tão-coerentes-como-o-Álvaro-Cunhal a padecer no Gulag ou esquecidos em alguma 'Psikucha'.
Resumindo, o doutor Álvaro Cunhal é o doutor Oliveira Salazar da esquerda. Eles são até muito parecidos em carácter, ambos o protótipo do Beirão casmurro, intolerante, chato, beato e intelectualmente (além de medíocres) desonestos, o que é bem maisgrave. E a única razão porque o doutor Cunhal não fez tão mal ao país quanto o doutor Oliveira Salazar, foi ele nunca ter tido o poder absoluto.
Mas também acho que deveríamos reconhecer que os esquerdistas eram, sobretudo no tempo da ditadura, muitas vezes, do melhor que o nosso jardim à beira-mar plantado podia oferecer em termos de generosidade e idealismo, que na altura resumíamos (eu também era esquerdista) com esta bela mas críptica expressão: é um bacano da corda…
Mas isto é apenas uma constatação que a decência intelectual me obriga a dizer, e é evidente que isto como contribuição para a prosperidade do país ‘ça na mange pas de pain’, como dizem os franceses (desculpem-me lá o galicismo mas são 1,30 da matina e não me consigo lembrar de algo melhor). Como ia dizendo, este reconhecimento das superiores qualidades morais (porque não!) dos nossos esquerdistas em geral, e comunistas em particular, não adianta nem atrasa. Porquê? Porque – como um pólo positivo anula o pólo negativo - precisamente na mesma altura, o mesmo tipo de gente, com as mesmas qualidades morais e com os mesmos problemas, se encontrava do outro lado da cortina de ferro.
Carmo da Rosa (Amesterdão)
segunda-feira, junho 27, 2005
Bruno à (nova) taxa normal
Um grande abraço de parabéns ao jovem (desculpa, Bruno, não resisti à palavra) Bruno, o senhor do Desesperada Esperança. Dia 25 antecipou-se à actualização da taxa. Cheers.
sexta-feira, junho 24, 2005
Doppelganger
Deparei-me com um problema e com uma evidência, enquanto lia o post que Luis Rainha dedicou à minha pessoa e a Vasco Pulido Valente.
Comecemos pela evidência: as qualidades literária e de argumentação de Luís Rainha são notáveis e explicam, desde logo, o desfasamento temporal entre o tema em apreço e a publicação do post. Quero com isto dizer o seguinte: estas coisas não se escrevem assim, de um dia para o outro. Só a banalidade e a vulgaridade são produzidas em tempo real, quando os acontecimentos ainda fumegam e a actualidade exala o seu inebriante mas baralhador odor. Aquilo que Luis Rainha produziu requer tempo, paciência e dedicação. Estamos na presença de um emérito esforço intelectual, acompanhado de um não menos importante vigor estilístico.
O problema: a expressão doppelganger. O grau de erudição de que padeço - três ou quatro furos acima do de uma anémona, um contentor de furos abaixo do de Luis Rainha - não me permite descortinar tais voos lexicais. É certo, certinho, que tratarei de me inteirar, já de seguida, do significado da expressão doppelganger. Mas seria estúpido, da minha parte, pôr em causa o epíteto. Assumo, penhorado, a minha condição de doppelganger. Estou certo de que Luis Rainha sabe do que fala. Voltemos, por isso, ao miolo da questão.
O esforço intelectual de Luis Rainha, e a clareza de raciocínio daí emanada, manifestam-se passados apenas 472 caracteres (incluindo espaços, o que constitui um recorde absoluto), quando Luis Rainha abrilhanta o auditório e o doppelganger (vou já ver o que é) com o seguinte desabafo: ”Nestes dias, acreditar na mesma coisa toda uma vida parece só ser virtude se estivermos a discutir João Paulo II”.
(Abro um parêntesis. Não posso deixar de vos alertar para a espirituosidade de Luis Rainha, aliada à lucidez e à erudição, ao arriscar comparar João Paulo II e o Catolicismo, a Álvaro Cunhal e ao Comunismo. Desta forma simples e graciosa, Luis Rainha dá-nos a entender que terá lido, a seu tempo, Andrei Sinyavsky, ao sugerir, como o autor, que o Comunismo deve passar a ser visto como um sistema teológico, e não como um fenómeno político, ou, como afirmou Zinovy Zinik, que o Marxismo Soviético é Hegel e o Judaísmo-Cristianismo às avessas. Fechar parêntesis)
Depreende-se, desta frase, que "acreditar na mesma coisa toda uma vida" é uma virtude. Bestial. Bestial a lógica, porque a besta sou eu, que tenho acreditado "toda uma vida" que "acreditar na mesma coisa toda uma vida" não é sinónimo de "virtude". Isto é: não necessariamente. O meu avô acreditou, toda a vida, que o homem nunca pôs os pezinhos na lua. Que tudo não passou de truque hollywoodesco. A minha avó acreditou, toda a vida, na bondade do Sr. Salazar e no carácter malévolo do Sr. Cunhal. O meu amigo Marcelo, que cresceu comigo, ainda hoje acredita que os comunistas comem criancinhas ao pequeno-almoço (é aquilo a que se chama um "anti-comunista primário"). Sei que o pai de um meu ex-colega de liceu, continua a defender hoje, como há vinte anos atrás, a superioridade da raça branca e a expulsão dos pretos de Portugal. Pensava eu, em suma, que "acreditar numa coisa toda a vida" poderia ser sinónimo de muita coisa (casmurrice, coerência, estupidez, ignorância, determinação, fanatismo, etc.) mas não necessariamente de "virtude". Doggelpanger? Vou já.
Logo a seguir, Luis Rainha escreve: "é fácil a quem detém o poder ser coerente e apresentar a tal «determinação»". Dou comigo a pensar precisamente o contrário: regra geral, é mais fácil parecer-se "coerente" e "determinado" em registo de contra-poder, sobretudo quando esse registo está envolto de uma aura de cruzada contra as "injustiças" que grassam no mundo. Se há coisa que o poder ensina é a insustentável leveza das nossas "coerências", face à angustia da decisão e do seu exercício. Mas, tudo bem. Goppeldanger? Já de seguida.
Luis Rainha comenta a minha frase – "Cunhal foi um homem coerente mas foi-o, quase sempre, pelas piores razões" – colocando uma questão: "O que serão para esta alma as «piores razões»?". Esta alma poderá responder-lhe da forma que se segue. O apego à coerência, por parte de Cunhal, fê-lo ser conivente com um sistema e com um regime totalitário e assassino. Sim, é verdade que os ideais do comunismo – igualdade, justiça social, etc. - são incomensuravelmente mais apelativos do que, por exemplo, a defesa nazi da superioridade de uma raça sobre todas as outras. Logo, aparentemente, Cunhal esteve do lado certo. Mas o problema esteve, desde muito cedo, no facto de, na prática, a ideologia comunista significar uma coisa completamente diferente. O problema esteve no facto de, desde muito cedo, e face às evidências mais gritantes, muita gente ter optado por desvalorizar ou sonegar a barbárie soviética como nunca ousaria sonegar ou desvalorizar o holocausto, só porque, supostamente, combatiam ao lado dos "bons ideais". O problema esteve no facto de homens como Cunhal – que não eram propriamente estúpidos ou ignorantes - terem negado, cega e obcecadamente, a iniquidade de um sistema só porque "acreditar na mesma coisa toda uma vida", ainda por cima numa coisa tão "nobre", só podia estar certo. O "acreditar na mesma coisa toda uma vida", fê-lo branquear, sonegar e desvalorizar os horrores cometidos pela praxis comunista em todo o mundo, sobretudo na sua querida e mui estimada União Soviética, que o condecorou, apoiou e formou. A determinação de Cunhal fê-lo sonhar e lutar por um sistema cuja superioridade moral repousava sobre milhões de cadáveres. Nem um putativo salvo-conduto moral, por ter lutado contra a ditadura, o poderá salvar numa avaliação póstuma; nem uma suposta procuração, tacitamente entregue por todos os que sofreram às mãos de um ditador, o iliba desse comportamento irresponsável; nem o romantismo da "chama rebelde", da "resistência" e de todo um léxico "corporativo" ligada à causa comunista (as "massas", os "explorados", os "exploradores", o "proletariado", a "luta", etc.) escondem o calculismo presente na ideia de que os fins justificam os meios, que Cunhal sempre (repito: sempre) professou. Ao contrário de outros camaradas, que por isso foram por ele perseguidos, Cunhal foi o timoneiro da ortodoxia, do aparelho, da negação e da cegueira. Poder-se-á dizer que Cunhal não sabia. Ou que sabia e que, por isso, chegou a "estremecer". Ora, se estremeceu nunca o disse. Se estremeceu nunca o escreveu. Se estremeceu nunca o reconheceu publicamente. Isso, quer Luis Rainha queira, quer não, faz toda a diferença. O carácter das pessoas passa por aí.
Luis Rainha não admite que se suponha, à partida, que Cunhal nunca estremeceu. E pergunta: "Como saberá ele [VPV] que Cunhal nunca sentiu um íntimo estremecimento pelos desmandos do «bloco socialista»?". Luis Rainha renuncia à presunção dos outros, mas não se coíbe de presumir, imaginando, os "críticos póstumos" em "sossegadas e cómodas carreiras num qualquer ministério, se tivessem nascido num país sujeito ao «comunismo» de há umas décadas".
(Novo parêntesis. Repare-se nas deliciosas e esclarecedoras aspas a envolver o vocábulo comunismo. Luis Rainha deve ser dos tais que defende que nenhum país foi, até à data, sujeito ao verdadeiro comunismo, porque, obviamente, o verdadeiro comunismo é uma coisa fantástica. O que se pôs em prática foi o «comunismo». Não confundir com comunismo. Fecho parêntesis).
Do lado dos críticos, Luis Rainha dá azo à sua "imaginação" rectroactiva. Do lado de Cunhal, Luis Rainha esquece os factos e a história. Goggeldanper? Um momento.
Perto do fim, num assomo de dramatismo pungente, já a puxar a acidental lágrima, Luis Rainha pergunta: "Era feia e tristemente humana a vida de quem resistia? E depois? Somos nós melhores que eles só por isso?". Luis Rainha continua sem perceber que ninguém contestou a resistência de Cunhal à ditadura. Luis Rainha continua sem perceber que não se trata de ser melhor do que ele "só por isso". É Cunhal que não tem que ser melhor do que nós "só por isso". Até porque milhares de pessoas, não afectas ao PC, lutaram e sofreram em silêncio. A figura de Cunhal não tem, nem pode, subtrair-se à critica ou ao julgamento póstumos. Cunhal foi uma figura pública. Um líder político. Cunhal influenciou e entrou na vida de muita gente (dentro e fora do seu partido). Cunhal teve um aparelho que o apoiou e «tropas» que com ele lutaram. Cunhal foi responsável pela bagunça no pós-25 de Abril, que atirou o país para um atraso de décadas. Cunhal disponibilizou informação secreta à União Soviética. Cunhal não foi o Zé Manel dos Anzóis, nem o Chico das Iscas. Não foi um anónimo mortal, que nada fez e pouco disse num qualquer blogue ou jornal. Cunhal foi um símbolo e uma referência. Isso deveria exigir sentido de responsabilidade e um apego mínimo à verdade.
No fim, Luis Rainha acusa-me, encapotadamente, de cobardia e de inveja. Sim, claro. Ao contrário de Cunhal, não sou, nem nunca serei, alguém. Não passo de um reles loppedranger (vou já de seguida). Daí a inveja. Resta-me, ao menos, a pequena consolação de não ter mentido a um povo, nem apoiado o totalitarismo. Que, como se sabe, é só uma palavra. Consolação, aliás, própria de anões.
Comecemos pela evidência: as qualidades literária e de argumentação de Luís Rainha são notáveis e explicam, desde logo, o desfasamento temporal entre o tema em apreço e a publicação do post. Quero com isto dizer o seguinte: estas coisas não se escrevem assim, de um dia para o outro. Só a banalidade e a vulgaridade são produzidas em tempo real, quando os acontecimentos ainda fumegam e a actualidade exala o seu inebriante mas baralhador odor. Aquilo que Luis Rainha produziu requer tempo, paciência e dedicação. Estamos na presença de um emérito esforço intelectual, acompanhado de um não menos importante vigor estilístico.
O problema: a expressão doppelganger. O grau de erudição de que padeço - três ou quatro furos acima do de uma anémona, um contentor de furos abaixo do de Luis Rainha - não me permite descortinar tais voos lexicais. É certo, certinho, que tratarei de me inteirar, já de seguida, do significado da expressão doppelganger. Mas seria estúpido, da minha parte, pôr em causa o epíteto. Assumo, penhorado, a minha condição de doppelganger. Estou certo de que Luis Rainha sabe do que fala. Voltemos, por isso, ao miolo da questão.
O esforço intelectual de Luis Rainha, e a clareza de raciocínio daí emanada, manifestam-se passados apenas 472 caracteres (incluindo espaços, o que constitui um recorde absoluto), quando Luis Rainha abrilhanta o auditório e o doppelganger (vou já ver o que é) com o seguinte desabafo: ”Nestes dias, acreditar na mesma coisa toda uma vida parece só ser virtude se estivermos a discutir João Paulo II”.
(Abro um parêntesis. Não posso deixar de vos alertar para a espirituosidade de Luis Rainha, aliada à lucidez e à erudição, ao arriscar comparar João Paulo II e o Catolicismo, a Álvaro Cunhal e ao Comunismo. Desta forma simples e graciosa, Luis Rainha dá-nos a entender que terá lido, a seu tempo, Andrei Sinyavsky, ao sugerir, como o autor, que o Comunismo deve passar a ser visto como um sistema teológico, e não como um fenómeno político, ou, como afirmou Zinovy Zinik, que o Marxismo Soviético é Hegel e o Judaísmo-Cristianismo às avessas. Fechar parêntesis)
Depreende-se, desta frase, que "acreditar na mesma coisa toda uma vida" é uma virtude. Bestial. Bestial a lógica, porque a besta sou eu, que tenho acreditado "toda uma vida" que "acreditar na mesma coisa toda uma vida" não é sinónimo de "virtude". Isto é: não necessariamente. O meu avô acreditou, toda a vida, que o homem nunca pôs os pezinhos na lua. Que tudo não passou de truque hollywoodesco. A minha avó acreditou, toda a vida, na bondade do Sr. Salazar e no carácter malévolo do Sr. Cunhal. O meu amigo Marcelo, que cresceu comigo, ainda hoje acredita que os comunistas comem criancinhas ao pequeno-almoço (é aquilo a que se chama um "anti-comunista primário"). Sei que o pai de um meu ex-colega de liceu, continua a defender hoje, como há vinte anos atrás, a superioridade da raça branca e a expulsão dos pretos de Portugal. Pensava eu, em suma, que "acreditar numa coisa toda a vida" poderia ser sinónimo de muita coisa (casmurrice, coerência, estupidez, ignorância, determinação, fanatismo, etc.) mas não necessariamente de "virtude". Doggelpanger? Vou já.
Logo a seguir, Luis Rainha escreve: "é fácil a quem detém o poder ser coerente e apresentar a tal «determinação»". Dou comigo a pensar precisamente o contrário: regra geral, é mais fácil parecer-se "coerente" e "determinado" em registo de contra-poder, sobretudo quando esse registo está envolto de uma aura de cruzada contra as "injustiças" que grassam no mundo. Se há coisa que o poder ensina é a insustentável leveza das nossas "coerências", face à angustia da decisão e do seu exercício. Mas, tudo bem. Goppeldanger? Já de seguida.
Luis Rainha comenta a minha frase – "Cunhal foi um homem coerente mas foi-o, quase sempre, pelas piores razões" – colocando uma questão: "O que serão para esta alma as «piores razões»?". Esta alma poderá responder-lhe da forma que se segue. O apego à coerência, por parte de Cunhal, fê-lo ser conivente com um sistema e com um regime totalitário e assassino. Sim, é verdade que os ideais do comunismo – igualdade, justiça social, etc. - são incomensuravelmente mais apelativos do que, por exemplo, a defesa nazi da superioridade de uma raça sobre todas as outras. Logo, aparentemente, Cunhal esteve do lado certo. Mas o problema esteve, desde muito cedo, no facto de, na prática, a ideologia comunista significar uma coisa completamente diferente. O problema esteve no facto de, desde muito cedo, e face às evidências mais gritantes, muita gente ter optado por desvalorizar ou sonegar a barbárie soviética como nunca ousaria sonegar ou desvalorizar o holocausto, só porque, supostamente, combatiam ao lado dos "bons ideais". O problema esteve no facto de homens como Cunhal – que não eram propriamente estúpidos ou ignorantes - terem negado, cega e obcecadamente, a iniquidade de um sistema só porque "acreditar na mesma coisa toda uma vida", ainda por cima numa coisa tão "nobre", só podia estar certo. O "acreditar na mesma coisa toda uma vida", fê-lo branquear, sonegar e desvalorizar os horrores cometidos pela praxis comunista em todo o mundo, sobretudo na sua querida e mui estimada União Soviética, que o condecorou, apoiou e formou. A determinação de Cunhal fê-lo sonhar e lutar por um sistema cuja superioridade moral repousava sobre milhões de cadáveres. Nem um putativo salvo-conduto moral, por ter lutado contra a ditadura, o poderá salvar numa avaliação póstuma; nem uma suposta procuração, tacitamente entregue por todos os que sofreram às mãos de um ditador, o iliba desse comportamento irresponsável; nem o romantismo da "chama rebelde", da "resistência" e de todo um léxico "corporativo" ligada à causa comunista (as "massas", os "explorados", os "exploradores", o "proletariado", a "luta", etc.) escondem o calculismo presente na ideia de que os fins justificam os meios, que Cunhal sempre (repito: sempre) professou. Ao contrário de outros camaradas, que por isso foram por ele perseguidos, Cunhal foi o timoneiro da ortodoxia, do aparelho, da negação e da cegueira. Poder-se-á dizer que Cunhal não sabia. Ou que sabia e que, por isso, chegou a "estremecer". Ora, se estremeceu nunca o disse. Se estremeceu nunca o escreveu. Se estremeceu nunca o reconheceu publicamente. Isso, quer Luis Rainha queira, quer não, faz toda a diferença. O carácter das pessoas passa por aí.
Luis Rainha não admite que se suponha, à partida, que Cunhal nunca estremeceu. E pergunta: "Como saberá ele [VPV] que Cunhal nunca sentiu um íntimo estremecimento pelos desmandos do «bloco socialista»?". Luis Rainha renuncia à presunção dos outros, mas não se coíbe de presumir, imaginando, os "críticos póstumos" em "sossegadas e cómodas carreiras num qualquer ministério, se tivessem nascido num país sujeito ao «comunismo» de há umas décadas".
(Novo parêntesis. Repare-se nas deliciosas e esclarecedoras aspas a envolver o vocábulo comunismo. Luis Rainha deve ser dos tais que defende que nenhum país foi, até à data, sujeito ao verdadeiro comunismo, porque, obviamente, o verdadeiro comunismo é uma coisa fantástica. O que se pôs em prática foi o «comunismo». Não confundir com comunismo. Fecho parêntesis).
Do lado dos críticos, Luis Rainha dá azo à sua "imaginação" rectroactiva. Do lado de Cunhal, Luis Rainha esquece os factos e a história. Goggeldanper? Um momento.
Perto do fim, num assomo de dramatismo pungente, já a puxar a acidental lágrima, Luis Rainha pergunta: "Era feia e tristemente humana a vida de quem resistia? E depois? Somos nós melhores que eles só por isso?". Luis Rainha continua sem perceber que ninguém contestou a resistência de Cunhal à ditadura. Luis Rainha continua sem perceber que não se trata de ser melhor do que ele "só por isso". É Cunhal que não tem que ser melhor do que nós "só por isso". Até porque milhares de pessoas, não afectas ao PC, lutaram e sofreram em silêncio. A figura de Cunhal não tem, nem pode, subtrair-se à critica ou ao julgamento póstumos. Cunhal foi uma figura pública. Um líder político. Cunhal influenciou e entrou na vida de muita gente (dentro e fora do seu partido). Cunhal teve um aparelho que o apoiou e «tropas» que com ele lutaram. Cunhal foi responsável pela bagunça no pós-25 de Abril, que atirou o país para um atraso de décadas. Cunhal disponibilizou informação secreta à União Soviética. Cunhal não foi o Zé Manel dos Anzóis, nem o Chico das Iscas. Não foi um anónimo mortal, que nada fez e pouco disse num qualquer blogue ou jornal. Cunhal foi um símbolo e uma referência. Isso deveria exigir sentido de responsabilidade e um apego mínimo à verdade.
No fim, Luis Rainha acusa-me, encapotadamente, de cobardia e de inveja. Sim, claro. Ao contrário de Cunhal, não sou, nem nunca serei, alguém. Não passo de um reles loppedranger (vou já de seguida). Daí a inveja. Resta-me, ao menos, a pequena consolação de não ter mentido a um povo, nem apoiado o totalitarismo. Que, como se sabe, é só uma palavra. Consolação, aliás, própria de anões.
terça-feira, junho 21, 2005
Longe, muito longe
O João já tinha feito uma referência à dita. Agora, chegou a minha vez: o video ou o audioclip da excelente entrevista de Christopher Hitchens ao programa Uncommon Knowledge.
Quando a acabarem de ver/ouvir (ou ler), pensem em Judite de Sousa. Em António José Teixeira. Em Ana Sousa Dias. Em Manuela Moura Guedes. Em Fátima Campos Ferreira. Depois, pensem nos seus habituais ou acidentais fregueses: o Sousa Tavares, o Mário Soares, o Ruben de Carvalho, o Manuel Monteiro, o professor, o doutor, o engenheiro, etc.
Estamos muito longe, não estamos?
Quando a acabarem de ver/ouvir (ou ler), pensem em Judite de Sousa. Em António José Teixeira. Em Ana Sousa Dias. Em Manuela Moura Guedes. Em Fátima Campos Ferreira. Depois, pensem nos seus habituais ou acidentais fregueses: o Sousa Tavares, o Mário Soares, o Ruben de Carvalho, o Manuel Monteiro, o professor, o doutor, o engenheiro, etc.
Estamos muito longe, não estamos?
Enquanto toda a gente se baba a ver o Six Feet Under…
…alguém trabalha em prol de coisas não menos importantes. De como suplantar mais um dia de Verão no Alentejo. De como desconversar tal como Hamlet o fez com Polónio. De como (re)pensar o futuro da Europa. Ah, o futuro da Europa! Deixemo-nos enredar no assunto pela mão de Mr James. Mr Clive James (toma nota, caro Rodrigo).
Destination Europe
"Suppose the world was an animal curled up into a ball, like a threatened armadillo, and you wanted to blow its brains out: the best way to do so would be to put the barrel of your gun against Europe and pull the trigger. The United States might be nettled by this dubious favouritism; in the century now waning, it has been called upon to save Europe from itself twice – three times if you count Stalin’s opportunistic incursion. But even the United States would have to admit, if pressed, that it is itself a largely European creation, a giant offshoot of the most productive piece of geography in the planet’s history. Behind that admission would be a tacit acknowledgement that, although America may have the power, the energy, and most of the money, Europe has the pedigree. As David Copperfield (the Broadway illusionist, not the Dickens character) is reported to have said to Claudia Schiffer while they were touring the Louvre and reading the dates on the paintings, ‘Talk about your old!’
As a word, Europe goes back a long way: Assyrian inscriptions speak of the difference between asu (where the sun rises; i.e. Asia) and ereb (where it sets). As a place, Europe is old even by the standards of dynastic China and Pharaonic Egypt. As an idea, though, Europe is comparatively new: the word European didn’t turn up in the language of diplomacy until the nineteenth century, and to think of Europe as one place had always taken some kind of supervening vision. Whatever unity existed within it came not through a unifying idea but through the exercise of power, and did not last.
The Pax Romana prevailed for more than two centuries: it left us the Latin language and all its rich derivatives, and it left us the law – and slavery, and militarism. Dante spent the best years of his life in exile: a member of a political faction, he has exiled from his beloved Florence not by another faction but by another faction of the same faction. The university system pioneered the notion of intellectual unity, but intellectual was all that it was. Erasmus, the wandering scholar was at home everywhere he went in Europe, but his wanderings were forced on him, and his humanism would have died young if he had been caught napping where the knives were out. The Church united Europe in the one faith – Christendom is a peaceful-sounding word – but finally the faith itself split. Nothing could stop the rise of the nation-states, or stop them from fighting once they had arisen. And those states whose destiny it was to fight one another had been forged form fiefdoms and principalities that had warred upon one another, form walled cities that had laid siege to one another, and from fortified hill towns that had laid siege from one another for the valleys in between. The colossal efforts of Charlemagne, Louis XIV and Napoleon – though they gave us, respectively, the restoration of learning, the apex of the comfortable arts, and the crucial new reality of the career open to the talents – all depended on military might. Kaiser Wilhelm II’s similar dreams seem more explicitly violent only in having left behind little that was constructive; and Hitler’s demented venture, though it united and unprecedentedly large portion of Europe, left nothing in its wake – nothing except destruction, and this: the idea of European unity stopped being an intoxicating vision and started being a mundane necessity.
The centrifugal effect of the Nazi regime in Germany scattered the best brains of Europe all over the planet. Exiled to faraway New Zealand, the philosopher Karl Popper developed his argument that there could no such thing as universal fixes – that the most that society could or should hope to do was to correct specific abuses. This perception surely applies to a united Europe: speculation about utopian goals it might achieve counts for little beside a firm grasp of what it sets out to avoid – any recurrence of the internecine conflict that was already ancient when Athens fought Sparta and that reached its hideous apotheosis in the Second World War. In the middle of the twentieth century, it had become plain for all to see that Europe’s glories – justly renowned even when they had to be rebuilt stone by stone – were merely its structure. Beneath them was the infrastructure – a network of burial mounds linked by battlefields – and it stank of blood. Hegel said that history was the story of liberty becoming conscious of itself. European history has culminated – at last, and in our time – with Europe becoming frightened of itself.
As happens so frequently in human affairs, fear has accomplished what neither reason nor culture ever could. Cultural unity was no illusion – had it been one, Hitler would not have been so eager to dispel it – but cultural unity had not been enough. When the musician played for Mengele in Auschwitz, it did not mean that art and civilization added up to nothing, but it did mean that they did not add up to everything. Beside the broken bodies of the tortured innocent, the life of the mind was left to be irrelevant – as, indeed, in any forced comparison it is.
To make sure that no such forced comparison happens again is the task in hand. It is not an easy one. In place of the conquerors’ fevered dream of a Europe united by the sword, the peaceful commercial republics of the New Europe make do with such cultural manifestations as the Eurovision Song Contest – a kitschy classic that every year draws a huge television audience, whose more sophisticated members amuse each others with jokes about how dumb it is. The jokes keep changing. For years, Norway’s songs reliably lost (’Norvège… nul points’); then they started winning. More recently, much derisive hilarity has attended the earnest efforts of Turkey. Between laughs, though, the less sophisticated but more thoughtful viewers should take heart: there was a time when the Turks stood at the gates of Vienna and bristled with the armed intention of getting into Europe by less tuneful means.
What the snobs are really afraid of is a United States of Europe that mirrors what they imagine the United States of America to be: an agglomerate dissolved into homogeneity, a consumer society consumed by mediocrity, or, at best, a mindless mimicry of Eurosavvy in which a dauntingly exact copy of Michelangelo’s David presides over Forest Lawn’s departed Angelenos and an actual-size Parthenon wows visitors to Nashville. But they are wrong about America, which is more than that; and t they are wrong about the New Europe, which, as the millennium looms, bids fair to attain a last, unprecedented, and very welcome greatness, through a just peace. Talk about your new!"
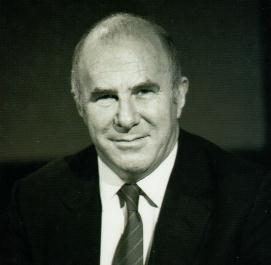
Clives James
in The New Yorker, 28 de Abril de 1997
Destination Europe
"Suppose the world was an animal curled up into a ball, like a threatened armadillo, and you wanted to blow its brains out: the best way to do so would be to put the barrel of your gun against Europe and pull the trigger. The United States might be nettled by this dubious favouritism; in the century now waning, it has been called upon to save Europe from itself twice – three times if you count Stalin’s opportunistic incursion. But even the United States would have to admit, if pressed, that it is itself a largely European creation, a giant offshoot of the most productive piece of geography in the planet’s history. Behind that admission would be a tacit acknowledgement that, although America may have the power, the energy, and most of the money, Europe has the pedigree. As David Copperfield (the Broadway illusionist, not the Dickens character) is reported to have said to Claudia Schiffer while they were touring the Louvre and reading the dates on the paintings, ‘Talk about your old!’
As a word, Europe goes back a long way: Assyrian inscriptions speak of the difference between asu (where the sun rises; i.e. Asia) and ereb (where it sets). As a place, Europe is old even by the standards of dynastic China and Pharaonic Egypt. As an idea, though, Europe is comparatively new: the word European didn’t turn up in the language of diplomacy until the nineteenth century, and to think of Europe as one place had always taken some kind of supervening vision. Whatever unity existed within it came not through a unifying idea but through the exercise of power, and did not last.
The Pax Romana prevailed for more than two centuries: it left us the Latin language and all its rich derivatives, and it left us the law – and slavery, and militarism. Dante spent the best years of his life in exile: a member of a political faction, he has exiled from his beloved Florence not by another faction but by another faction of the same faction. The university system pioneered the notion of intellectual unity, but intellectual was all that it was. Erasmus, the wandering scholar was at home everywhere he went in Europe, but his wanderings were forced on him, and his humanism would have died young if he had been caught napping where the knives were out. The Church united Europe in the one faith – Christendom is a peaceful-sounding word – but finally the faith itself split. Nothing could stop the rise of the nation-states, or stop them from fighting once they had arisen. And those states whose destiny it was to fight one another had been forged form fiefdoms and principalities that had warred upon one another, form walled cities that had laid siege to one another, and from fortified hill towns that had laid siege from one another for the valleys in between. The colossal efforts of Charlemagne, Louis XIV and Napoleon – though they gave us, respectively, the restoration of learning, the apex of the comfortable arts, and the crucial new reality of the career open to the talents – all depended on military might. Kaiser Wilhelm II’s similar dreams seem more explicitly violent only in having left behind little that was constructive; and Hitler’s demented venture, though it united and unprecedentedly large portion of Europe, left nothing in its wake – nothing except destruction, and this: the idea of European unity stopped being an intoxicating vision and started being a mundane necessity.
The centrifugal effect of the Nazi regime in Germany scattered the best brains of Europe all over the planet. Exiled to faraway New Zealand, the philosopher Karl Popper developed his argument that there could no such thing as universal fixes – that the most that society could or should hope to do was to correct specific abuses. This perception surely applies to a united Europe: speculation about utopian goals it might achieve counts for little beside a firm grasp of what it sets out to avoid – any recurrence of the internecine conflict that was already ancient when Athens fought Sparta and that reached its hideous apotheosis in the Second World War. In the middle of the twentieth century, it had become plain for all to see that Europe’s glories – justly renowned even when they had to be rebuilt stone by stone – were merely its structure. Beneath them was the infrastructure – a network of burial mounds linked by battlefields – and it stank of blood. Hegel said that history was the story of liberty becoming conscious of itself. European history has culminated – at last, and in our time – with Europe becoming frightened of itself.
As happens so frequently in human affairs, fear has accomplished what neither reason nor culture ever could. Cultural unity was no illusion – had it been one, Hitler would not have been so eager to dispel it – but cultural unity had not been enough. When the musician played for Mengele in Auschwitz, it did not mean that art and civilization added up to nothing, but it did mean that they did not add up to everything. Beside the broken bodies of the tortured innocent, the life of the mind was left to be irrelevant – as, indeed, in any forced comparison it is.
To make sure that no such forced comparison happens again is the task in hand. It is not an easy one. In place of the conquerors’ fevered dream of a Europe united by the sword, the peaceful commercial republics of the New Europe make do with such cultural manifestations as the Eurovision Song Contest – a kitschy classic that every year draws a huge television audience, whose more sophisticated members amuse each others with jokes about how dumb it is. The jokes keep changing. For years, Norway’s songs reliably lost (’Norvège… nul points’); then they started winning. More recently, much derisive hilarity has attended the earnest efforts of Turkey. Between laughs, though, the less sophisticated but more thoughtful viewers should take heart: there was a time when the Turks stood at the gates of Vienna and bristled with the armed intention of getting into Europe by less tuneful means.
What the snobs are really afraid of is a United States of Europe that mirrors what they imagine the United States of America to be: an agglomerate dissolved into homogeneity, a consumer society consumed by mediocrity, or, at best, a mindless mimicry of Eurosavvy in which a dauntingly exact copy of Michelangelo’s David presides over Forest Lawn’s departed Angelenos and an actual-size Parthenon wows visitors to Nashville. But they are wrong about America, which is more than that; and t they are wrong about the New Europe, which, as the millennium looms, bids fair to attain a last, unprecedented, and very welcome greatness, through a just peace. Talk about your new!"
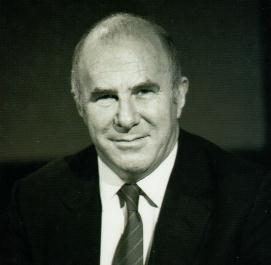
Clives James
in The New Yorker, 28 de Abril de 1997
sexta-feira, junho 17, 2005
VPV com uma pontinha de CCC *
Portugal não se respeita
por Vasco Pulido Valente in Público
"Parece que Álvaro Cunhal foi uma figura "importante, "central", "ímpar" do século XX português. Muito bem. Estaline não foi uma figura "importante", "central", "ímpar" do século XX? Parece que Álvaro Cunhal foi "determinado" e "coerente". Hitler não foi? Parece que Álvaro Cunhal era "desinteressado", "dedicado" e "espartano". Salazar não era? Parece que Álvaro Cunhal era "inteligente". Hitler e Salazar não eram? Parece que Álvaro Cunhal sofreu a prisão e o exílio. Lenine e Estaline não sofreram? As virtudes pessoais de Álvaro Cunhal não estão em causa, como não estão as de Hitler, de Estaline, de Lenine ou de Salazar. O que está em causa é o uso que ele fez dessas virtudes, nomeadamente o de promover e defender a vida inteira um regime abjecto e assassino. Álvaro Cunhal nunca por um instante estremeceu com os 20 milhões de mortos, que apuradamente custou o comunismo soviético, nem com a escravidão e o genocídio dos povos do império, nem sequer com a miséria indesculpável e visível do "sol da terra". Para ele, o "ideal", a religião leninista e estalinista, justificava tudo.
Dizem também que o "grande resistente" Álvaro Cunhal contribuiu decisivamente para o "25 de Abril" e a democracia portuguesa. Pese embora à tradição romântica da oposição, a resistência comunista, como a outra, em nada contribuiu para o fim da ditadura. A ditadura morreu em parte por si própria e em parte por efeito directo da guerra de África. Em França, a descolonização trouxe De Gaulle; aqui, desgraçadamente, o MFA. Só depois, como é clássico, Álvaro Cunhal aproveitou o vácuo do poder para a "sua" revolução. Com isso, ia provocando uma guerra civil e arrasou a economia (o que ainda hoje nos custa caro). Por causa do PREC, o país perdeu, pelo menos, 15 anos. Nenhum democrata lhe tem de agradecer coisa nenhuma.
Toda a gente sabe, ou devia saber, isto. O extraordinário é que as televisões tratassem a morte de Cunhal como a de um benemérito da pátria. E o impensável é que o sr. Presidente da República, o sr. presidente da Assembleia da República, o sr. primeiro-ministro e dezenas de "notáveis" resolvessem homenagear Cunhal, em nome do Estado democrático, que ele sempre odiou e sempre se esforçou por destruir e perverter. A originalidade indígena, desta vez, passou os limites da decência. Obviamente, Portugal não se respeita."
(*) Gosto de pensar que sim.
por Vasco Pulido Valente in Público
"Parece que Álvaro Cunhal foi uma figura "importante, "central", "ímpar" do século XX português. Muito bem. Estaline não foi uma figura "importante", "central", "ímpar" do século XX? Parece que Álvaro Cunhal foi "determinado" e "coerente". Hitler não foi? Parece que Álvaro Cunhal era "desinteressado", "dedicado" e "espartano". Salazar não era? Parece que Álvaro Cunhal era "inteligente". Hitler e Salazar não eram? Parece que Álvaro Cunhal sofreu a prisão e o exílio. Lenine e Estaline não sofreram? As virtudes pessoais de Álvaro Cunhal não estão em causa, como não estão as de Hitler, de Estaline, de Lenine ou de Salazar. O que está em causa é o uso que ele fez dessas virtudes, nomeadamente o de promover e defender a vida inteira um regime abjecto e assassino. Álvaro Cunhal nunca por um instante estremeceu com os 20 milhões de mortos, que apuradamente custou o comunismo soviético, nem com a escravidão e o genocídio dos povos do império, nem sequer com a miséria indesculpável e visível do "sol da terra". Para ele, o "ideal", a religião leninista e estalinista, justificava tudo.
Dizem também que o "grande resistente" Álvaro Cunhal contribuiu decisivamente para o "25 de Abril" e a democracia portuguesa. Pese embora à tradição romântica da oposição, a resistência comunista, como a outra, em nada contribuiu para o fim da ditadura. A ditadura morreu em parte por si própria e em parte por efeito directo da guerra de África. Em França, a descolonização trouxe De Gaulle; aqui, desgraçadamente, o MFA. Só depois, como é clássico, Álvaro Cunhal aproveitou o vácuo do poder para a "sua" revolução. Com isso, ia provocando uma guerra civil e arrasou a economia (o que ainda hoje nos custa caro). Por causa do PREC, o país perdeu, pelo menos, 15 anos. Nenhum democrata lhe tem de agradecer coisa nenhuma.
Toda a gente sabe, ou devia saber, isto. O extraordinário é que as televisões tratassem a morte de Cunhal como a de um benemérito da pátria. E o impensável é que o sr. Presidente da República, o sr. presidente da Assembleia da República, o sr. primeiro-ministro e dezenas de "notáveis" resolvessem homenagear Cunhal, em nome do Estado democrático, que ele sempre odiou e sempre se esforçou por destruir e perverter. A originalidade indígena, desta vez, passou os limites da decência. Obviamente, Portugal não se respeita."
(*) Gosto de pensar que sim.
Correio dos leitores
De Jorge Bento:
"Quem pensa como o Bernardo Pires de Lima, toma-nos por parvos. Criticar uma pessoa pelo que ela defendeu em vida não significa desrespeitar a morte da mesma. Quando anda meio mundo a dizer que morreu um grande combatente pela liberdade... Se nos calarmos estamos a ser coniventes com o branqueamento da história contemporânea portuguesa e a fazer passar por herói aquele que tudo fez para impedir a liberdade em democracia(...)
Não se pode confundir o direito à verdade com o desrespeito por quem morre. Desrespeito por quem morre, teve grande parte da esquerda aquando da morte de Sá Carneiro. Eu tinha 9 ou 10 anos e no dia seguinte passei o dia a ouvir na escola os meus colegas a gozarem "ontem cheirava a carneiro esturricado", repetindo até à exaustão o que tinham ouvido aos pais no dia anterior."
"Quem pensa como o Bernardo Pires de Lima, toma-nos por parvos. Criticar uma pessoa pelo que ela defendeu em vida não significa desrespeitar a morte da mesma. Quando anda meio mundo a dizer que morreu um grande combatente pela liberdade... Se nos calarmos estamos a ser coniventes com o branqueamento da história contemporânea portuguesa e a fazer passar por herói aquele que tudo fez para impedir a liberdade em democracia(...)
Não se pode confundir o direito à verdade com o desrespeito por quem morre. Desrespeito por quem morre, teve grande parte da esquerda aquando da morte de Sá Carneiro. Eu tinha 9 ou 10 anos e no dia seguinte passei o dia a ouvir na escola os meus colegas a gozarem "ontem cheirava a carneiro esturricado", repetindo até à exaustão o que tinham ouvido aos pais no dia anterior."
Genial
Os novos títulos da colecção Anita (e devo dizer que o lado masculino desse blogue está muito atento à realidade sócio-cultural).
quinta-feira, junho 16, 2005
Três vezes JMF
1. JMF resume a questiuncula, esclarecendo o auditório: são tudo suposições e presunções. Já o devia ter dito.
2. JMF faz-se de desentendido: quando o informei de que a grande maioria dos processos de fiscalização tributária despoletados pelo critério dos «sinais exteriores de riqueza» (a dita «ostentação») não dão em nada, acenou com a história das «suposições». Informe-se, homem. Informe-se e diga não às suposições.
3. E JMF manda a farpa: “o MacGuffin lá saberá do que fala”. Pois, se calhar o MacGuffin é dos que… enfim, não é? Cool.
2. JMF faz-se de desentendido: quando o informei de que a grande maioria dos processos de fiscalização tributária despoletados pelo critério dos «sinais exteriores de riqueza» (a dita «ostentação») não dão em nada, acenou com a história das «suposições». Informe-se, homem. Informe-se e diga não às suposições.
3. E JMF manda a farpa: “o MacGuffin lá saberá do que fala”. Pois, se calhar o MacGuffin é dos que… enfim, não é? Cool.
Vamos com calma
Bernardo Pires de Lima, no Acidental, acha “deplorável que se aproveite o dia da morte de alguém – seja ele quem for – para fazer julgamentos sobre a sua pessoa. (…) [O]u não se fala ou respeitam-se os mortos.”.
Eu ofereço-me, desde já, para enfiar a carapuça dos que, no dia da morte de Cunhal, não se calaram. Não vejo, aliás, razões para nos calarmos nesse dia, e só nesse dia. Nem percebo porque carga d’água se desrespeitam os mortos escrevendo criticamente sobre um aspecto, ou uma dimensão, da sua existência em vida. No meu caso, como em tantos outros, os comentários debruçaram-se sobre a persona política e não sobre o cidadão e ser humano Álvaro. E foram escritos em tom de reacção ao coro hipócrita, complacente e amnésico de elogios funebres que saturou o éter.
Presumo não ser o caso do Bernardo (tenho, aliás, a certeza), mas só uma mente retorcida poderia equivaler o que aqui foi escrito sobre Cunhal a um «julgamento» sobre a sua pessoa. Convém, por isso, não enfiar tudo no mesmo saco, esquecendo o contexto e o sentido do que foi escrito (aqui como noutros sítios). Quanto ao romantismo das «jornadas de luta», da «resistência» e dos «ideais», pois que sejam. Cada um promove e apaixona-se pelo que quer. Na certeza, porém, de que, adquirindo dimensão publica, os actos e as posições de carácter político não podem subtrair-se a eventuais «comentários». Mesmo na hora da morte. Não haveria maior desrespeito do que o silêncio hipócrita e o emudecimento cínico, em relação a uma pessoa que marcou a segunda metade do século XX português. Para o bem e para o mal.
Eu ofereço-me, desde já, para enfiar a carapuça dos que, no dia da morte de Cunhal, não se calaram. Não vejo, aliás, razões para nos calarmos nesse dia, e só nesse dia. Nem percebo porque carga d’água se desrespeitam os mortos escrevendo criticamente sobre um aspecto, ou uma dimensão, da sua existência em vida. No meu caso, como em tantos outros, os comentários debruçaram-se sobre a persona política e não sobre o cidadão e ser humano Álvaro. E foram escritos em tom de reacção ao coro hipócrita, complacente e amnésico de elogios funebres que saturou o éter.
Presumo não ser o caso do Bernardo (tenho, aliás, a certeza), mas só uma mente retorcida poderia equivaler o que aqui foi escrito sobre Cunhal a um «julgamento» sobre a sua pessoa. Convém, por isso, não enfiar tudo no mesmo saco, esquecendo o contexto e o sentido do que foi escrito (aqui como noutros sítios). Quanto ao romantismo das «jornadas de luta», da «resistência» e dos «ideais», pois que sejam. Cada um promove e apaixona-se pelo que quer. Na certeza, porém, de que, adquirindo dimensão publica, os actos e as posições de carácter político não podem subtrair-se a eventuais «comentários». Mesmo na hora da morte. Não haveria maior desrespeito do que o silêncio hipócrita e o emudecimento cínico, em relação a uma pessoa que marcou a segunda metade do século XX português. Para o bem e para o mal.
Informações privilegiadas
JMF insiste em dar a entender que tem informações privilegiadas sobre o submundo. Diz, agora, que “Não quer dizer que toda a gente que tem um topo de gama não pague impostos [vá lá…]. Quer apenas dizer que grande parte dessa gente não paga impostos. [grande parte=maioria? Qual a fonte? Ah, não pode revelar] Isto não é do foro da vida privada dessas pessoas [O fugir aos impostos? De acordo]. Quando alguém não paga os impostos que deveria pagar isso é de interesse público, porque, na verdade, estamos perante um roubo ao Estado, a todos nós [novamente de acordo]."
Os argumentos de JMF voltam a sustentar-se em suposições. Não em factos. JMF acha que o parque automóvel presente num qualquer parque de estacionamento de um qualquer hipermercado de província é sociológica e fiscalmente relevante para o caso em apreço. Está visto, e provado, que JMF não conhece o país e só observa o que lhe convém para preenchimento da tal checklist. A obsessão, e o asco, pelo «topo de gama» não lhe permitem perceber que boa parte dos vigaristas evitam pavonear-se com sinais exteriores de riqueza. Seria interessante JMF chegar à fala com os fiscais da Administração Fiscal para perceber o índice de sucesso no combate à evasão fiscal baseado no critério dos «topos de gama». Eu digo-lhe: quase nulo. Mas isto, claro, são suposições. No que toca a factos, o privilégio está todo do lado de JMF. E a imparcialidade, no que toca a tretas ideológicas, também.
Os argumentos de JMF voltam a sustentar-se em suposições. Não em factos. JMF acha que o parque automóvel presente num qualquer parque de estacionamento de um qualquer hipermercado de província é sociológica e fiscalmente relevante para o caso em apreço. Está visto, e provado, que JMF não conhece o país e só observa o que lhe convém para preenchimento da tal checklist. A obsessão, e o asco, pelo «topo de gama» não lhe permitem perceber que boa parte dos vigaristas evitam pavonear-se com sinais exteriores de riqueza. Seria interessante JMF chegar à fala com os fiscais da Administração Fiscal para perceber o índice de sucesso no combate à evasão fiscal baseado no critério dos «topos de gama». Eu digo-lhe: quase nulo. Mas isto, claro, são suposições. No que toca a factos, o privilégio está todo do lado de JMF. E a imparcialidade, no que toca a tretas ideológicas, também.
Este, já era
O Rodrigo deixou-se invadir por perplexidades de vária ordem, em torno da novela “referendar ou não referendar, eis a questão”. Meu caro Rodrigo: já toda a gente percebeu que, nesta novela, um dos actores principais (o tratado) se revelou um cabotino de grosso recorte, que todos olham agora de soslaio. Neste clima de desconfiança, esta produção está votada ao fracasso. Seria penoso, de estúpido, insistir na suposta, mas impossível, ratificação deste tratado. Com o ‘não’ da França e da Holanda, este tratado está morto. Não se trata de «perder» ou «ganhar» em levá-lo a votos. É inconsequente fazê-lo. E é dar um sinal de que se pretende impingir uma coisa independentemente dos outros, das próprias regras e do que é razoável.
Por outro lado, voltar a referendar, daqui a uns tempos (um ano, dois anos, quatro anos), o mesmíssimo tratado em França e na Holanda – género “pode ser que agora passe” – não passaria de uma vigarice e de um insulto à inteligência das pessoas. Os referendos não podem ser vistos como provas de salto em altura, com um número de tentativas infinitas até à vitória final. Os referendos têm resultados e os resultados têm consequências. Os resultados servem para alguma coisa. Para perceber, por exemplo, que, como diria Lord Falkland, quando é preciso mudar, é preciso mudar.
É preciso, portanto, parar. Interromper o processo. E lançar, de uma vez por todas, uma verdadeira discussão pública sobre o rumo e o modelo europeus, envolvendo a ralé e não apenas as cúpulas. Com calma. E com tempo.
Por outro lado, voltar a referendar, daqui a uns tempos (um ano, dois anos, quatro anos), o mesmíssimo tratado em França e na Holanda – género “pode ser que agora passe” – não passaria de uma vigarice e de um insulto à inteligência das pessoas. Os referendos não podem ser vistos como provas de salto em altura, com um número de tentativas infinitas até à vitória final. Os referendos têm resultados e os resultados têm consequências. Os resultados servem para alguma coisa. Para perceber, por exemplo, que, como diria Lord Falkland, quando é preciso mudar, é preciso mudar.
É preciso, portanto, parar. Interromper o processo. E lançar, de uma vez por todas, uma verdadeira discussão pública sobre o rumo e o modelo europeus, envolvendo a ralé e não apenas as cúpulas. Com calma. E com tempo.
Uma vitória dos trabalhadores & do «patronato» sobre os sindicatos
Ora leiam:
”Trabalhadores da GM Portugal aceitam proposta da gerência”
”A maioria dos trabalhadores da fábrica de Azambuja da GM Portugal (antiga Opel) pronunciou-se, segunda-feira, em referendo interno, a favor da última proposta de aumentos salariais apresentada pelo conselho de gerência, em detrimento da reivindicada pelos sindicatos.
Segundo o Público apurou, dos 1131 funcionários inscritos, votaram 970, com 54 por cento a preferirem a proposta da administração da GM portuguesa e 44 por cento a votarem na proposta da Comissão de Trabalhadores (CT). Registaram-se, ainda, 1,1 por cento de votos brancos e 0, 9 por cento de nulos.
Os resultados vão ser, hoje, analisados em reunião da Comissão de Trabalhadores (CT), mas tudo indica que a posição maioritária dos trabalhadores será aceite e aplicada. A proposta da gerência prevê que, em 2005 e nos dois anos seguintes, os aumentos salariais sejam indexados à inflação e que seja estabelecido um tecto salarial nos escalões mais elevados, em que os funcionários receberão o valor restante em prémios. A CT defendia aumentos salariais de dois por cento, com a fixação de um limite mínimo de 30 euros e de um máximo de 50 euros.
Paulo Vicente, porta-voz da CT, disse ao PÚBLICO que os 11 elementos da Comissão reúnem-se hoje para reflectirem e deliberarem sobre o resultado do referendo, mas admite que uma das situações em apreço poderá ser o pedido de demissão da CT e a convocação de eleições para este órgão. "Não é nada certo, mas pode haver uma deliberação no sentido de convocar eleições para a Comissão de Trabalhadores, antes do fim do mandato, que decorre até Dezembro", explicou.
Já a administração da GM Portugal adiantou que o documento do Acordo Social está pronto para ser assinado pela Comissão de Trabalhadores e que aguarda uma resposta desta estrutura. Os responsáveis da empresa têm alertado para o facto de ser, neste momento, a única do universo de fábricas da GM na Europa que ainda não tem acordo social assinado, o que poderá afectar a sua posição numa altura em que a multinacional do sector automóvel começa a avaliar quais serão as unidades que vão produzir novos modelos a partir de 2008.”
”Trabalhadores da GM Portugal aceitam proposta da gerência”
”A maioria dos trabalhadores da fábrica de Azambuja da GM Portugal (antiga Opel) pronunciou-se, segunda-feira, em referendo interno, a favor da última proposta de aumentos salariais apresentada pelo conselho de gerência, em detrimento da reivindicada pelos sindicatos.
Segundo o Público apurou, dos 1131 funcionários inscritos, votaram 970, com 54 por cento a preferirem a proposta da administração da GM portuguesa e 44 por cento a votarem na proposta da Comissão de Trabalhadores (CT). Registaram-se, ainda, 1,1 por cento de votos brancos e 0, 9 por cento de nulos.
Os resultados vão ser, hoje, analisados em reunião da Comissão de Trabalhadores (CT), mas tudo indica que a posição maioritária dos trabalhadores será aceite e aplicada. A proposta da gerência prevê que, em 2005 e nos dois anos seguintes, os aumentos salariais sejam indexados à inflação e que seja estabelecido um tecto salarial nos escalões mais elevados, em que os funcionários receberão o valor restante em prémios. A CT defendia aumentos salariais de dois por cento, com a fixação de um limite mínimo de 30 euros e de um máximo de 50 euros.
Paulo Vicente, porta-voz da CT, disse ao PÚBLICO que os 11 elementos da Comissão reúnem-se hoje para reflectirem e deliberarem sobre o resultado do referendo, mas admite que uma das situações em apreço poderá ser o pedido de demissão da CT e a convocação de eleições para este órgão. "Não é nada certo, mas pode haver uma deliberação no sentido de convocar eleições para a Comissão de Trabalhadores, antes do fim do mandato, que decorre até Dezembro", explicou.
Já a administração da GM Portugal adiantou que o documento do Acordo Social está pronto para ser assinado pela Comissão de Trabalhadores e que aguarda uma resposta desta estrutura. Os responsáveis da empresa têm alertado para o facto de ser, neste momento, a única do universo de fábricas da GM na Europa que ainda não tem acordo social assinado, o que poderá afectar a sua posição numa altura em que a multinacional do sector automóvel começa a avaliar quais serão as unidades que vão produzir novos modelos a partir de 2008.”
Por partes, Besugo
Seguindo a sua ordem:
1. Eu não meti Cunhal no mesmo saco de Hitler, Pol Pot, Mao ou Estaline. O contexto e o sentido, Besugo: são muito importantes. Quando trouxe à colação esse grupo de benfeitores, foi com o intuito de explanar uma coisa aterradoramente simples: aludir à «coerência» ou às «convicções» como forma de elogio, não interessa nem ao menino Jesus. Ser-se «coerente» ou «convicto», por si só, não garante nada. A «coerência» e as «convicções» não podem ser tomadas como fins. Daí, repito, ter insinuado o óbvio ululante: a História está repleta de «coerentes» e «convictos» que espalharam o terror e a morte.
2. «Independentemente»? Nunca «independentemente». Nunca.
3. Ninguém negou importância ao que de admirável pode ter a coragem ou a capacidade de resistência. «Cagão» é puxar desses galões, como se um homem se pudesse reduzir a isso. De resto, há cobardias com as quais me identifico, e coragens que me envergonham.
4. Mais uma vez, depende. Depende do contexto, do timing, etc. A luta e a resistência de Cunhal foram, a partir de certa altura, o seu pior inimigo. Atraiçoaram-no. Levaram-na à caricatura de si mesmo. E à fossilização. Lutar «assim», ou resistir «assim», não foram sinónimos de «lutar bem».
No meu caso, não se tratou de «conversa global». «Conserva global» é essa: a do «lutou assim, resistiu assado, esqueçamos o resto». Contra argumentos não há factos? Ou contra factos não há argumentos? O facto de Cunhal ter resistido corajosamente (dou de barato isso) contra a ditadura, não o iliba: a) das suas ideias políticas (que eu tenho a liberdade e a «convicção» de achar profundamente erradas); b) das suas ligações ao aparelho soviético e da forma como branqueou a História, negando, ou desvalorizando, os atentados contra a humanidade perpetrados pelo seu modelo político e social (como se a História seguisse um curso inexorável, pontuada por inevitáveis «danos colaterais» sobre os quais se devia e, pelos vistos, deve desviar o olhar); 3) do seu papel e das suas intenções no PREC e no pós-PREC.
Desconstruir? Precisamente, Besugo: trata-se de desconstruir uma construção fabulosa e mitológica, baseada numa bravata de clichés e ideias feitas (a que não é alheia a supranormalização de termos como «coragem», «resistência» e «luta»), por sua vez ligada a uma ignóbil complacência para com o marxismo-leninismo - como se, ao fim de tantos anos, o marxismo-leninismo continuasse a encerrar uma suposta pureza moral e uma etérea nobreza de princípios, que encantou gerações apesar dos factos e contra a História.
«Olha logo quem», não é Besugo? Olha logo o campeão da auto-estima e das certezas, a tomar-se por «desgraçadinho». Deixe-se de tretas, está bem? Resista à presunção e à má-fé. Se, por um momento, tivesse querido «despachá-lo», não estaria agora a responder-lhe. Nem a agradecer-lhe a declarada e agradabilíssima intenção de me sobreviver. Você leva-se e leva-me demasiado a sério.
1. Eu não meti Cunhal no mesmo saco de Hitler, Pol Pot, Mao ou Estaline. O contexto e o sentido, Besugo: são muito importantes. Quando trouxe à colação esse grupo de benfeitores, foi com o intuito de explanar uma coisa aterradoramente simples: aludir à «coerência» ou às «convicções» como forma de elogio, não interessa nem ao menino Jesus. Ser-se «coerente» ou «convicto», por si só, não garante nada. A «coerência» e as «convicções» não podem ser tomadas como fins. Daí, repito, ter insinuado o óbvio ululante: a História está repleta de «coerentes» e «convictos» que espalharam o terror e a morte.
2. «Independentemente»? Nunca «independentemente». Nunca.
3. Ninguém negou importância ao que de admirável pode ter a coragem ou a capacidade de resistência. «Cagão» é puxar desses galões, como se um homem se pudesse reduzir a isso. De resto, há cobardias com as quais me identifico, e coragens que me envergonham.
4. Mais uma vez, depende. Depende do contexto, do timing, etc. A luta e a resistência de Cunhal foram, a partir de certa altura, o seu pior inimigo. Atraiçoaram-no. Levaram-na à caricatura de si mesmo. E à fossilização. Lutar «assim», ou resistir «assim», não foram sinónimos de «lutar bem».
No meu caso, não se tratou de «conversa global». «Conserva global» é essa: a do «lutou assim, resistiu assado, esqueçamos o resto». Contra argumentos não há factos? Ou contra factos não há argumentos? O facto de Cunhal ter resistido corajosamente (dou de barato isso) contra a ditadura, não o iliba: a) das suas ideias políticas (que eu tenho a liberdade e a «convicção» de achar profundamente erradas); b) das suas ligações ao aparelho soviético e da forma como branqueou a História, negando, ou desvalorizando, os atentados contra a humanidade perpetrados pelo seu modelo político e social (como se a História seguisse um curso inexorável, pontuada por inevitáveis «danos colaterais» sobre os quais se devia e, pelos vistos, deve desviar o olhar); 3) do seu papel e das suas intenções no PREC e no pós-PREC.
Desconstruir? Precisamente, Besugo: trata-se de desconstruir uma construção fabulosa e mitológica, baseada numa bravata de clichés e ideias feitas (a que não é alheia a supranormalização de termos como «coragem», «resistência» e «luta»), por sua vez ligada a uma ignóbil complacência para com o marxismo-leninismo - como se, ao fim de tantos anos, o marxismo-leninismo continuasse a encerrar uma suposta pureza moral e uma etérea nobreza de princípios, que encantou gerações apesar dos factos e contra a História.
«Olha logo quem», não é Besugo? Olha logo o campeão da auto-estima e das certezas, a tomar-se por «desgraçadinho». Deixe-se de tretas, está bem? Resista à presunção e à má-fé. Se, por um momento, tivesse querido «despachá-lo», não estaria agora a responder-lhe. Nem a agradecer-lhe a declarada e agradabilíssima intenção de me sobreviver. Você leva-se e leva-me demasiado a sério.
quarta-feira, junho 15, 2005
Mistério
Há um livro que tenho procurado incessantemente, mas sem qualquer resultado prático. Quando falo na editora (Hugin) a maior parte dos livreiros torce o nariz. Parece que não é «muito conhecida». Que foge aos circuitos e critérios «comerciais». Quando me refiro ao título (“O Acidental – O blog de que a direita gosta”) ou ao co-autor (Paulo Pinto Mascarenhas), a estranheza apodera-se dos meus interlocutores. Franzem a testa, torcem o sobrolho, abandonam o olhar ao vazio, abrem uma boca muda e outra hesitante, próprias de quem não sabe o que dizer ou como dizê-lo. Passada a angustia da indefinição, confessam: a) nunca o viram; b) nunca ouviram falar de. Já palmilhei as Fnacs, a Bertrand do Chiado, as livrarias de Évora, as feiras do livro (Évora e Lisboa) e, até à data, nada. Rien. Nicles. Mistério absoluto. Não fosse este lugar, diria mesmo que o livro nunca existiu. Já o do Barnabé é mato. Sub-género: «papo-seco». Soltando o homem da conspiração que habita no meu excelso e fulgurante corpo, arrisco dizer que os distribuidores e os livreiros não passam de controleiros de esquerda que se recusam a dormir em serviço. A causa não foi modificada. A luta trava-se, sobretudo, e como de costume, a um nível terreno, comercial, mundano. Eu, se fosse o Paulo, já tinha pegado no Zézinho Sá Fernandes e processado os gajos.
Isso mesmo, Besugo
“Ó Álvaro, lutaste mas foi mal”. Isso: mal. Muito mal, mesmo.
De resto, amigo Besugo, não perca tempo comigo. Como sabe, ou devia saber, eu nunca lutei por nada. Nem mal, nem bem. Nada. E o que interessa, na vida, é lutar. Ah, a luta! Trate-me, por isso, como «caso perdido». Medroso e merdoso. «Carapau-de-corrida» ao pé de si, nobre besugo. Como, aliás, já o faz. Pela minha parte, limitar-me-ei a agradecer-lhe não o exorcismo, mas o desassombro.
De resto, amigo Besugo, não perca tempo comigo. Como sabe, ou devia saber, eu nunca lutei por nada. Nem mal, nem bem. Nada. E o que interessa, na vida, é lutar. Ah, a luta! Trate-me, por isso, como «caso perdido». Medroso e merdoso. «Carapau-de-corrida» ao pé de si, nobre besugo. Como, aliás, já o faz. Pela minha parte, limitar-me-ei a agradecer-lhe não o exorcismo, mas o desassombro.
Não vejo melhor forma de dizer isto
(ou Mai’Nada!)
“Vão-me desculpar, mas não vejo melhor forma de dizer isto: há-de ser necessário ter uma vida muito próxima do estado vegetativo – trabalhar como fiel num armazém em Trondheim, ser especialista em nutrição de «hamsters» siberianos, estar a preparar um mestrado acerca dos rituais de acasalamento das trilobites no Paleozóico – para achar que as canções dos Belle and Sebastian podem ser vagamente interessantes, imaginar que, depois dos Smiths, elas foram a melhor oferenda dos céus àquela tribo de jovens intelectuais linfáticos que deprimem profundamente perante a devastadora visão do pacote de «cornflakes» vazio ou até – coloquemos as coisas mais claramente – supor que se trata daquilo a que nos habituámos a chamar pop. Não, a música dos Belle and Sebastian é apenas o equivalente musical da «literatura» embaraçosa que habitualmente se aloja nas páginas dos diários privados de adolescência e que, nos casos mais benignos, é rapidamente incinerada em auto-de-fé assim que o Clearasil começa a surtir efeito. E, num casamento particularmente feliz de forma e conteúdo, vertida para o interior de uma morna canjinha sonora que, aparentemente, consola os corações sensíveis e apazigua os dois-dóis sentimentais (…).”
João Lisboa in Expresso 10-6-2005
“Vão-me desculpar, mas não vejo melhor forma de dizer isto: há-de ser necessário ter uma vida muito próxima do estado vegetativo – trabalhar como fiel num armazém em Trondheim, ser especialista em nutrição de «hamsters» siberianos, estar a preparar um mestrado acerca dos rituais de acasalamento das trilobites no Paleozóico – para achar que as canções dos Belle and Sebastian podem ser vagamente interessantes, imaginar que, depois dos Smiths, elas foram a melhor oferenda dos céus àquela tribo de jovens intelectuais linfáticos que deprimem profundamente perante a devastadora visão do pacote de «cornflakes» vazio ou até – coloquemos as coisas mais claramente – supor que se trata daquilo a que nos habituámos a chamar pop. Não, a música dos Belle and Sebastian é apenas o equivalente musical da «literatura» embaraçosa que habitualmente se aloja nas páginas dos diários privados de adolescência e que, nos casos mais benignos, é rapidamente incinerada em auto-de-fé assim que o Clearasil começa a surtir efeito. E, num casamento particularmente feliz de forma e conteúdo, vertida para o interior de uma morna canjinha sonora que, aparentemente, consola os corações sensíveis e apazigua os dois-dóis sentimentais (…).”
João Lisboa in Expresso 10-6-2005
Gato Fedorento, o blog
Comprei o livro “Gato Fedorento – O Blog” (edições Cotovia). Oportunidade para: 1) atestar do génio humorístico dos fedorentos; 2) revisitar as polémicas, os casos e os encanitamentos suscitados com o aparecimento dos blogues. Três quartos do livro remetem-nos para o ano de 2003, ano em que tudo parece ter acontecido: o boom blogosférico, o fim da Coluna Infame, a reacção idiota de Pedro Rolo Duarte (e de alguma imprensa dita séria) em relação aos blogues, a chegada de Pacheco Pereira à blogosfera, blogues de direita versus blogues de esquerda, etc. etc. A história e a historiografia deste (epi)fenómeno passam por este livro.
Nota final: só não perdoo a Ricardo de Araújo Pereira o facto de ter escrito, em Março de 2004, “O que vale é que já ninguém leva o Vasco Pulido Valente a sério. Ninguém? Não. Há um tipo que ainda leva. Mas é mesmo o único.” Acho que não, Ricardo. Acho que não estou sozinho. E, por mero acaso, leste o artigo sobre o Cunhal?
Nota final: só não perdoo a Ricardo de Araújo Pereira o facto de ter escrito, em Março de 2004, “O que vale é que já ninguém leva o Vasco Pulido Valente a sério. Ninguém? Não. Há um tipo que ainda leva. Mas é mesmo o único.” Acho que não, Ricardo. Acho que não estou sozinho. E, por mero acaso, leste o artigo sobre o Cunhal?
terça-feira, junho 14, 2005
These days
Nico na jukebox.
These days
I've been out walking
I don't do too much talking
These days, these days.
These days I seem to think a lot
About the things that I forgot to do
And all the times I had the chance to.
I've stopped my rambling,
I don't do too much gambling
These days, these days.
These days I seem to think about
How all the changes came about my ways
And I wonder if I'll see another highway.
I had a lover,
I don't think I'll risk another
These days, these days.
And if I seem to be afraid
To live the life that I have made in song
It's just that I've been losing so long.
La la la la la, la la.
I've stopped my dreaming,
I won't do too much scheming
These days, these days.
These days I sit on corner stones
And count the time in quarter tones to ten.
Please don't confront me with my failures,
I had not forgotten them.
These days
I've been out walking
I don't do too much talking
These days, these days.
These days I seem to think a lot
About the things that I forgot to do
And all the times I had the chance to.
I've stopped my rambling,
I don't do too much gambling
These days, these days.
These days I seem to think about
How all the changes came about my ways
And I wonder if I'll see another highway.
I had a lover,
I don't think I'll risk another
These days, these days.
And if I seem to be afraid
To live the life that I have made in song
It's just that I've been losing so long.
La la la la la, la la.
I've stopped my dreaming,
I won't do too much scheming
These days, these days.
These days I sit on corner stones
And count the time in quarter tones to ten.
Please don't confront me with my failures,
I had not forgotten them.
One Nation Under God Therapy
Bad counsel
por Theodore Dalrymple
One Nation Under Therapy: How the Helping Culture is Eroding Self-Reliance.
by Sally Satel & Christina Hoff Sommers
St. Martin's Press
"A few days ago I attended a talk by a leading member of the British psychiatric bureaucracy. It was his proud boast that he and his colleagues had persuaded the government that hospitals and health authorities should have to explain why they refused psychiatric assistance to anyone who had asked for it. The idea that some people might actually be harmed by the desired but nevertheless ineffective and unnecessary psychiatric assistance was completely beyond his comprehension. He evidently believed in a neo-Cartesian dictum: I want, therefore I need.
It is not difficult to work out that such an attitude would serve the financial interests and appetite for power of the so-called caring professionals. The psychiatric bureaucrat also cited in his talk a frequently quoted figure about the proportion, 70 percent, of prisoners who had “mental health problems”—among them, of course, unhappiness at being locked up. That slippery phrase “mental health problems” was meant to imply, though it could not prove, that a giant apparatus of care was necessary to cater to the 70 percent. When it comes to therapy, evidently, there can never be enough.
What the authors of this book call “therapism,” the idea that man is psychologically fragile and can achieve mental stability only by means of professional assistance, is comparatively new, and is in antithesis not only to the traditional American virtues of self-reliance and sturdiness in the face of adversity, but also to a couple of millennia of moral reflection. Whereas fortitude was once regarded as a virtue, it has come to be regarded—at least by those who believe in therapism—as a kind of reprehensible and deliberate obtuseness, to be utterly condemned as treason to the self (there is no fury like a non-judgmentalist scorned).
As the authors show, sometimes hilariously, therapism now pervades society. This is true not only in America but in much of Europe as well. Education departments regularly scour books to ensure that they contain nothing that might bring a blush to the cheek of the Young Person. Modern Podsnappery is not so much prudish about sex as inclined to regard everyone as suffering from severe psychological allergies. Any adverse judgment about anything (except adverse judgment itself) will produce a reaction in someone, just as traces of peanut do in the susceptible. Therefore, in the interests of psychological safety, it is best to avoid such judgment altogether. As for games in which there are winners and losers, they should be avoided: the experience of losing could damage the Young Person’s self-esteem for life.
According to therapism, everyone who has ever witnessed anything unpleasant, or experienced loss or humiliation (which is to say, the great majority of humanity), is at risk of subsequent mental illness unless he expresses his feelings volubly and often, preferably as directed by a mental health worker. As the authors point out, there is no evidence that this is so—quite the contrary. As appetites grow with the feeding, so emotions grow with the expression. In fact, the evidence is very strong that most people are resilient, and that resilience is self-reinforcing. If, however, you persuade people that they are weak and fragile, that is what they will become.
At stake is our whole conception of what it is to be human. The common-law tradition is that everyone is responsible for his actions unless the contrary can be proved. Therapism, which has already subverted law to a considerable extent, believes that wrongdoing is itself a symptom. Man is a feather, blown on the wind of circumstance. There, but for the grace of my environment, go I.
It is easy to understand the appeal of therapism. At first sight, it is more compassionate than the common-law conception of man, which seems harshly moralistic by comparison. Therapism is all-forgiving, or appears so until, of course, you realize that there can be no forgiveness where there is no blame. In fact, therapism is dehumanizing, since it sees people as passive products of their past, as inanimate objects are. Since therapists do not, because they cannot, see themselves in the same way, but rather as fully evolved beings endowed with free will, they are inevitably inclined to speak to the objects of their ministrations de haut en bas. With the forthright shrewdness characteristic of Australians, the owners of a laboratory Down Under encapsulated this in their offer to their clients: HIV testing, guaranteed no counseling.
Therapism has caused a decline in the quality of our culture. People are now engaged in a kind of arms race, feeling obliged to express their emotions ever more extravagantly to prove to themselves and other just how much and how deeply they feel. This leads to the peculiar shrillness, shallowness, and lack of subtlety of so much of our culture.
Therapism has also corrupted large numbers of people. The assumption that people are easily and permanently damaged by various traumas has led many of them to act the part for the sake of receiving compensation. In this connection, I can’t help recalling a man I met who had been a torturer in the Middle East, but who had himself fallen out with the torturing authorities and had been severely tortured in his turn. When his torture was over, he fled to Britain. What really ruined his life, however, and made it impossible for him ever to work again, was a car accident in Britain, in which someone went into the back of his car at five miles per hour. You wouldn’t have to be a believer in the economic theory of history to spot the explanation of this particular story.
The thesis of One Nation Under Therapy is not entirely new, but it is stated uncompromisingly and with vigor, and brings the latest evidence to bear on the question. Particularly disturbing for believers in therapism was the fact that, after 9/11, the population of New York was not so traumatized that it required counseling en masse, though counselors descended on the city en masse, like bluebottles on a corpse. This would have been funny had it not been so macabre. The counselors needed clients far more than clients needed counselors.
I should declare an interest: the authors quote me with approval, and I naturally approve of anyone who approves of me (they boost my self-esteem). But the fact is that they have written a book, comparatively short and very easy to read, that touches on one of the deepest questions of human existences: how should we live? I do think, however, they are too kind about the motives of counselors and others who promote therapism: they reiterate, to my mind unconvincingly, that they are well-intentioned.
I am not so sure. I think they are largely driven by a desire to earn a living by voyeurism. I remember that when the first Gulf War broke out, the hospital in which I worked was designated as a receiving center for casualties. The counselors and other professional carers held a meeting in which they positively salivated at the prospect of compulsorily counseling scores of injured and burnt young soldiers (in the event, none materialized).
Once, when I worked in some distant islands in the Pacific, there was a road accident in which about twenty young women were thrown out of the back of a truck that was transporting them. They were brought to hospital, screaming and bloodied, and I shall never forget the struggle of the local population to get a good view. They literally climbed in through the windows and prevented us, the doctors, from reaching the injured on their beds.
In Britain or America, the climbers-in at the windows would have been counselors."
Vasco Pulido Valente vintage
Sobre Álvaro Cunhal, o excelente artigo de Vasco Pulido Valente. Para o Público.
Crescer com "o Álvaro"
por Vasco Pulido Valente
“Morreu ontem, esquecido e trivializado, Álvaro Cunhal. A gente que o demonizava, e com toda a razão, em 1975, há quinze anos que lhe tinha perdido o medo e o respeito. A partir de 1990, o Partido Comunista passou a ser um resto, quase um monumento, na Assembleia da República; e a insistência no "marxismo-leninismo", tal como o definia a União Soviética, começou a criar ao "homem que não mudava" uma aura de fidelidade e "nobreza", que era sobretudo um protesto contra o oportunismo corrente. Apareceu então um novo Cunhal. O Cunhal que a esquerda ignorava e que a direita, uma certa direita, tratava com o desprezo amável normalmente reservado a "inferiores": o Cunhal da impotência. Em 1991, segui a última campanha dele e percebi com espanto que também o "partido" o queria proteger do abandono e da tristeza: no fundo, da realidade. No Seixal, por exemplo, uma senhora com o seu melhor vestido e um penteado de cabeleireiro, tremia com a hipótese de uma mau resultado: um mau resultado "dava ao Álvaro um enorme desgosto". Depois disso, "o Álvaro", velho e doente, deixou de se mostrar em público. Pouco a pouco, a ausência fez dele, ainda vivo, uma figura histórica. Pior: uma parte curiosa e comercial do folclore indígena. O Até Amanhã, Camaradas! da SIC, por exemplo, asséptico e politicamente inócuo, com um terrível "bom gosto" de "estilista", transformou a grande epopeia do PC numa aventura sem significado, relevância ou grandeza. Se Cunhal a viu, e com certeza que não viu, deve ter chorado sobre aquele epitáfio.
Em 1949 ou 50, quando pela primeira vez me falaram dele com emoção ou, mais precisamente, com devoção, "o Álvaro" estava preso. Tanto o meu pai como a minha mãe o conheciam. A minha mãe trabalhara com ele no obrigatório inquérito a um "bairro de lata", com que na altura o progressismo (mesmo católico) iniciava os seus prosélitos. O meu pai durante um tempo recebera e distribuíra dinheiro do "partido" (um exercício particularmente perigoso). Quando o meu pai foi dirigir uma "fábrica" de catorze operários numa aldeia ao pé do Porto, ia às vezes buscar umas pessoas, que entravam lá em a casa à noite, não comiam à mesa e nunca saíam do quarto. Um casal, constituído, como depois vim a saber, por um marinheiro bêbado (um "arsenalista") e por uma "companheira que ele espancava", chegou a alertar a vizinhança. Por mim, sem perceber nada (nem sequer o suficiente para perguntar) percebia pelo menos que a presença destes visitantes pesava. De medo, suponho hoje. Cresci com este mistério e só mais tarde, já em Lisboa, me explicaram. É difícil reconstituir o fervor com que se falava do "partido" e do "Álvaro". Pelo que me disseram, fiquei a imaginar que existia em Portugal uma legião de justos que lutavam e sofriam pelo povo e, acima deles, muito acima, um mártir, "o Álvaro", algures numa cela incandescente.
O nome, "o Álvaro", exigia sempre um tom litúrgico. O que me contaram sobre ele roçava a hagiografia: o sacrifício, a traição, a tortura, a cela de Peniche. E também a inteligência, o talento, a coragem, a entrega ao "partido" e, através do "partido", ao proletariado e à felicidade humana. Isto impressionava, até por ser absolutamente sincero. Além disso, o mundo do PC e dos "companheiros de caminho" era um mundo fechado. Os meus pais não tinham amigos fora dele, coisa que de resto o "controleiro" proibia, e, se por acaso arranjavam algum, o "controleiro" mandava logo "cortar". Os livros que eles liam, e que naturalmente também li, vinham todos da lista aprovada pela ortodoxia estalinista: Gorki, claro, Sholokhov, Jorge Amado, Panait Istrati, Steinbeck (As Vinhas da Ira), Dos Passos, Martin du Gard, Romain Rolland, Malraux (A Condição Humana), Aragon, Éluard, Neruda. E também a tralha do costume: romancistas do Azerbaijão, italianos ignotos, pacifistas (Barbusse, por exemplo), a colecção Cosmos (completa), a Vértice, propaganda sobre a guerra de Espanha ou sobre os julgamentos de Moscovo (um enorme calhamaço com um título inesquecível: A Grande Conspiração contra a Paz) e o inevitável opus de Sidney e Beatrice Webb O Comunismo Ssoviético: uma nova civilização. Portugueses, que me lembre, poucos: Soeiro, Redol, Gomes Ferreira. Suspeito que raramente uma criança foi educada com tão má literatura e tanta mentira.
O "partido" exigia aos "militantes" uma "vida modesta" e virtuosa. Era o tempo em que o Avante!, para exibir o precipício moral dos "dissidentes", contava que eles frequentavam o Casino do Estoril de charuto na boca, com as mulheres "cobertas de jóias", e acabavam a noite em "deboches" por "palácios de banqueiros". Não se conseguia imaginar depravação maior. Os comunistas, por contraste deviam pelo menos simbolicamente partilhar a miséria do "povo". Os meus pais gastavam, de facto, muito pouco dinheiro. Quase não saíam, nunca viajavam, usavam a roupa até ao extremo da decência. Ao princípio, por necessidade. Mas, depois, por escolha, por uma espécie de penitência ou de pedantismo, que, de resto, me faziam notar e me obrigaram eventualmente a seguir. Muitas vezes ouvi de amigos deles: "Os teus pais vivem com muito menos do que podem." Um exemplo que me criava obrigações.
Esta superioridade dos comunistas incluía os costumes. O ateísmo e a defesa do divórcio não impediam os meus pais de "cortar" com os "militantes" que se divorciavam e de se agitarem com horror à mais vaga suspeita de adultério. As mulheres que se "portavam mal" inspiravam um grande falatório e sessões de crítica em que se discutiam os sinais da queda: normalmente excessos de bâton e pó-de-arroz, vestidos, chapéus, sapatos de salto alto ou casacos de peles, quando o caso não chegava ao cúmulo das jóias, que se aproximava da traição. Aqui, como no resto, o "partido" precisava de uma disciplina dura e de segregar aqueles que por qualquer razão o punham em risco, fazendo entrar nele a desordem e as tentações da "burguesia", ou seja, de uma existência vagamente normal.
O próprio "partido" organizava os prazeres "puros" dos fiéis. Passeios no Tejo, para adultos; e piqueniques com as crianças, em que se cantava o "Não fiques para trás, ó companheiro..." e o "Terra pátria, serás nossa..." do Cancioneiro Popular Português de Lopes-Graça. Irregularmente, havia também sessões (vigiadas pela PIDE) da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, de que a minha mãe era presidente, com coro da Academia dos Amadores de Música (do fatal Lopes-Graça) e atracções várias, como o poema de Sidónio Muralha Grilos, Grilinhos e Grilões, recitado por mim. Mas, sobretudo, os meus pais reuniam-se uma vez por semana com meia-dúzia de amigos para falar de arte e de política, sob a direcção informal de um "camarada mais ligado" (ligado com o "controleiro"). Aí ficavam a saber o que lhes convinha e, literalmente, tiravam dúvidas.
Este edifício da "legalidade" servia essencialmente para sustentar o edifício da "clandestinidade". Os meus pais tinham "tarefas". Já disse que o meu pai recebia e distribuía dinheiro do "partido" e, com o carro da empresa, transportava também "funcionários" de um lado para o outro, durante a noite, com "contactos" duvidosos que muitas vezes falhavam e o deixavam abatido e nervoso. Anos mais tarde, acabou por me descrever essa espécie de "encontros" no meio de sítio nenhum (num cruzamento de estradas, no quilómetro x da estrada y) com gente que raramente conhecia e que largava depois, sem quase uma palavra, num descampado igual. Apesar do medo, o que o impressionava era a insuportável tristeza daquelas viagens da desolação para a desolação.
A principal tarefa da minha mãe era à superfície mais simpática. Levava ao médico filhos de "funcionários", como se fossem dela, ou levava aos "funcionários" um médico "amigo", ou seja, cúmplice ou "companheiro de caminho". Os conhecimentos do pai (o meu avô Pulido Valente) simplificavam as coisas. Mas, numa crise, e principalmente com crianças não eram poucas, começavam as complicações: telefonemas, correrias, visitas sem aviso, que iam inevitavelmente contra as regras de segurança e provocavam inquietações. Felizmente, aquele "ponto de apoio" durou anos sem acidente de maior. Para mim, foi uma iniciação e, como o resto, deixou um (péssimo) vinco.
Entretanto, o mundo ia mudando. Lá fora a grande esperança revolucionária morria em França e em Itália e a direita expulsava os comunistas do poder. Na Alemanha ocupada, a América resistia à URSS e conseguia transformar a Tri-Zona num Estado democrático, a República Federal. As potências do Ocidente não tocavam em Franco e Salazar e criavam a NATO. Cá dentro, depois da febre do MUD, do MUD juvenil e da campanha presidencial de Norton de Matos, a oposição caía na sua habitual tristeza. Mesmo dentro da oposição, a eterna estratégia do "partido" de monopolizar e dominar tudo tinha deixado ressentimentos, que não passariam tão cedo. Mais grave do que isso, com a relativa normalidade do pós-guerra, começou a chegar, ou a ser finalmente ouvida, alguma evidência séria sobre o "campo comunista". Na estante do meu pai apareceram Victor Serge, Koestler e o velho Retour de l"URSS de Gide. Kravchenko, se causou um escândalo, também causou um abalo. Mas, principalmente, e porque se tratava da família de que se tratava, o apoio oficial de Estaline à "teoria" biológica de Lyssenko fez perceber para que extremos podia deslizar a ortodoxia: segundo me contaram, o meu avô Pulido, que era professor de Medicina, disse o que devia com a devida brutalidade.
Os meus pais não romperam abruptamente com o partido. Como costumava suceder, o "afastamento" (uma palavra típica da Igreja) foi gradual. Tiveram as suas querelas políticas com o "controleiro" e discutiram com emissários da clandestinidade questões doutrinais. Cândida Ventura, por exemplo, ficava noites, se não a explicar, a justificar os desvarios da seita. Enquanto ela fumava cigarros russos (palavra de honra), a incomodidade dos meus pais crescia. Pouco a pouco, entraram num pequeno círculo de cépticos, que desconfiava da obediência estrita à "linha do partido". E, com o tempo, atrás da desconfiança veio o desprezo. Os santificados militantes da véspera desceram ao estatuto (aliás, realista) de gente ignorante e fanática; e os comunistas da legalidade, que fielmente seguiam a "orientação correcta", receberam o nome irrisório de "batatulinas" (suponho que por analogia com "batatudo", isto é, grosso, arredondado, em suma, estúpido).
Embora preso, "o Álvaro", como herói, morreu de facto nessa época e foi enterrado com as revelações de Khrushchev ao XX Congresso do Partido Comunista Russo, que apareceram logo lá em casa, em tradução francesa. Não se falava dele e, quando se falava, era para o lamentar. A fuga de Peniche e o Rumo à Vitória pertenceram já à história de Cunhal. O meu pai ainda leu (na "edição" da clandestinidade) o Rumo à Vitória, que declarou um "disparate". A minha mãe nem isso.
Houve, no entanto, uma despedida. A minha mãe foi ao aeroporto ver "o Álvaro", quando ele voltou a Portugal depois do "25 de Abril" e achou, não sei porquê, que ele estava mais magro.”
Crescer com "o Álvaro"
por Vasco Pulido Valente
“Morreu ontem, esquecido e trivializado, Álvaro Cunhal. A gente que o demonizava, e com toda a razão, em 1975, há quinze anos que lhe tinha perdido o medo e o respeito. A partir de 1990, o Partido Comunista passou a ser um resto, quase um monumento, na Assembleia da República; e a insistência no "marxismo-leninismo", tal como o definia a União Soviética, começou a criar ao "homem que não mudava" uma aura de fidelidade e "nobreza", que era sobretudo um protesto contra o oportunismo corrente. Apareceu então um novo Cunhal. O Cunhal que a esquerda ignorava e que a direita, uma certa direita, tratava com o desprezo amável normalmente reservado a "inferiores": o Cunhal da impotência. Em 1991, segui a última campanha dele e percebi com espanto que também o "partido" o queria proteger do abandono e da tristeza: no fundo, da realidade. No Seixal, por exemplo, uma senhora com o seu melhor vestido e um penteado de cabeleireiro, tremia com a hipótese de uma mau resultado: um mau resultado "dava ao Álvaro um enorme desgosto". Depois disso, "o Álvaro", velho e doente, deixou de se mostrar em público. Pouco a pouco, a ausência fez dele, ainda vivo, uma figura histórica. Pior: uma parte curiosa e comercial do folclore indígena. O Até Amanhã, Camaradas! da SIC, por exemplo, asséptico e politicamente inócuo, com um terrível "bom gosto" de "estilista", transformou a grande epopeia do PC numa aventura sem significado, relevância ou grandeza. Se Cunhal a viu, e com certeza que não viu, deve ter chorado sobre aquele epitáfio.
Em 1949 ou 50, quando pela primeira vez me falaram dele com emoção ou, mais precisamente, com devoção, "o Álvaro" estava preso. Tanto o meu pai como a minha mãe o conheciam. A minha mãe trabalhara com ele no obrigatório inquérito a um "bairro de lata", com que na altura o progressismo (mesmo católico) iniciava os seus prosélitos. O meu pai durante um tempo recebera e distribuíra dinheiro do "partido" (um exercício particularmente perigoso). Quando o meu pai foi dirigir uma "fábrica" de catorze operários numa aldeia ao pé do Porto, ia às vezes buscar umas pessoas, que entravam lá em a casa à noite, não comiam à mesa e nunca saíam do quarto. Um casal, constituído, como depois vim a saber, por um marinheiro bêbado (um "arsenalista") e por uma "companheira que ele espancava", chegou a alertar a vizinhança. Por mim, sem perceber nada (nem sequer o suficiente para perguntar) percebia pelo menos que a presença destes visitantes pesava. De medo, suponho hoje. Cresci com este mistério e só mais tarde, já em Lisboa, me explicaram. É difícil reconstituir o fervor com que se falava do "partido" e do "Álvaro". Pelo que me disseram, fiquei a imaginar que existia em Portugal uma legião de justos que lutavam e sofriam pelo povo e, acima deles, muito acima, um mártir, "o Álvaro", algures numa cela incandescente.
O nome, "o Álvaro", exigia sempre um tom litúrgico. O que me contaram sobre ele roçava a hagiografia: o sacrifício, a traição, a tortura, a cela de Peniche. E também a inteligência, o talento, a coragem, a entrega ao "partido" e, através do "partido", ao proletariado e à felicidade humana. Isto impressionava, até por ser absolutamente sincero. Além disso, o mundo do PC e dos "companheiros de caminho" era um mundo fechado. Os meus pais não tinham amigos fora dele, coisa que de resto o "controleiro" proibia, e, se por acaso arranjavam algum, o "controleiro" mandava logo "cortar". Os livros que eles liam, e que naturalmente também li, vinham todos da lista aprovada pela ortodoxia estalinista: Gorki, claro, Sholokhov, Jorge Amado, Panait Istrati, Steinbeck (As Vinhas da Ira), Dos Passos, Martin du Gard, Romain Rolland, Malraux (A Condição Humana), Aragon, Éluard, Neruda. E também a tralha do costume: romancistas do Azerbaijão, italianos ignotos, pacifistas (Barbusse, por exemplo), a colecção Cosmos (completa), a Vértice, propaganda sobre a guerra de Espanha ou sobre os julgamentos de Moscovo (um enorme calhamaço com um título inesquecível: A Grande Conspiração contra a Paz) e o inevitável opus de Sidney e Beatrice Webb O Comunismo Ssoviético: uma nova civilização. Portugueses, que me lembre, poucos: Soeiro, Redol, Gomes Ferreira. Suspeito que raramente uma criança foi educada com tão má literatura e tanta mentira.
O "partido" exigia aos "militantes" uma "vida modesta" e virtuosa. Era o tempo em que o Avante!, para exibir o precipício moral dos "dissidentes", contava que eles frequentavam o Casino do Estoril de charuto na boca, com as mulheres "cobertas de jóias", e acabavam a noite em "deboches" por "palácios de banqueiros". Não se conseguia imaginar depravação maior. Os comunistas, por contraste deviam pelo menos simbolicamente partilhar a miséria do "povo". Os meus pais gastavam, de facto, muito pouco dinheiro. Quase não saíam, nunca viajavam, usavam a roupa até ao extremo da decência. Ao princípio, por necessidade. Mas, depois, por escolha, por uma espécie de penitência ou de pedantismo, que, de resto, me faziam notar e me obrigaram eventualmente a seguir. Muitas vezes ouvi de amigos deles: "Os teus pais vivem com muito menos do que podem." Um exemplo que me criava obrigações.
Esta superioridade dos comunistas incluía os costumes. O ateísmo e a defesa do divórcio não impediam os meus pais de "cortar" com os "militantes" que se divorciavam e de se agitarem com horror à mais vaga suspeita de adultério. As mulheres que se "portavam mal" inspiravam um grande falatório e sessões de crítica em que se discutiam os sinais da queda: normalmente excessos de bâton e pó-de-arroz, vestidos, chapéus, sapatos de salto alto ou casacos de peles, quando o caso não chegava ao cúmulo das jóias, que se aproximava da traição. Aqui, como no resto, o "partido" precisava de uma disciplina dura e de segregar aqueles que por qualquer razão o punham em risco, fazendo entrar nele a desordem e as tentações da "burguesia", ou seja, de uma existência vagamente normal.
O próprio "partido" organizava os prazeres "puros" dos fiéis. Passeios no Tejo, para adultos; e piqueniques com as crianças, em que se cantava o "Não fiques para trás, ó companheiro..." e o "Terra pátria, serás nossa..." do Cancioneiro Popular Português de Lopes-Graça. Irregularmente, havia também sessões (vigiadas pela PIDE) da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, de que a minha mãe era presidente, com coro da Academia dos Amadores de Música (do fatal Lopes-Graça) e atracções várias, como o poema de Sidónio Muralha Grilos, Grilinhos e Grilões, recitado por mim. Mas, sobretudo, os meus pais reuniam-se uma vez por semana com meia-dúzia de amigos para falar de arte e de política, sob a direcção informal de um "camarada mais ligado" (ligado com o "controleiro"). Aí ficavam a saber o que lhes convinha e, literalmente, tiravam dúvidas.
Este edifício da "legalidade" servia essencialmente para sustentar o edifício da "clandestinidade". Os meus pais tinham "tarefas". Já disse que o meu pai recebia e distribuía dinheiro do "partido" e, com o carro da empresa, transportava também "funcionários" de um lado para o outro, durante a noite, com "contactos" duvidosos que muitas vezes falhavam e o deixavam abatido e nervoso. Anos mais tarde, acabou por me descrever essa espécie de "encontros" no meio de sítio nenhum (num cruzamento de estradas, no quilómetro x da estrada y) com gente que raramente conhecia e que largava depois, sem quase uma palavra, num descampado igual. Apesar do medo, o que o impressionava era a insuportável tristeza daquelas viagens da desolação para a desolação.
A principal tarefa da minha mãe era à superfície mais simpática. Levava ao médico filhos de "funcionários", como se fossem dela, ou levava aos "funcionários" um médico "amigo", ou seja, cúmplice ou "companheiro de caminho". Os conhecimentos do pai (o meu avô Pulido Valente) simplificavam as coisas. Mas, numa crise, e principalmente com crianças não eram poucas, começavam as complicações: telefonemas, correrias, visitas sem aviso, que iam inevitavelmente contra as regras de segurança e provocavam inquietações. Felizmente, aquele "ponto de apoio" durou anos sem acidente de maior. Para mim, foi uma iniciação e, como o resto, deixou um (péssimo) vinco.
Entretanto, o mundo ia mudando. Lá fora a grande esperança revolucionária morria em França e em Itália e a direita expulsava os comunistas do poder. Na Alemanha ocupada, a América resistia à URSS e conseguia transformar a Tri-Zona num Estado democrático, a República Federal. As potências do Ocidente não tocavam em Franco e Salazar e criavam a NATO. Cá dentro, depois da febre do MUD, do MUD juvenil e da campanha presidencial de Norton de Matos, a oposição caía na sua habitual tristeza. Mesmo dentro da oposição, a eterna estratégia do "partido" de monopolizar e dominar tudo tinha deixado ressentimentos, que não passariam tão cedo. Mais grave do que isso, com a relativa normalidade do pós-guerra, começou a chegar, ou a ser finalmente ouvida, alguma evidência séria sobre o "campo comunista". Na estante do meu pai apareceram Victor Serge, Koestler e o velho Retour de l"URSS de Gide. Kravchenko, se causou um escândalo, também causou um abalo. Mas, principalmente, e porque se tratava da família de que se tratava, o apoio oficial de Estaline à "teoria" biológica de Lyssenko fez perceber para que extremos podia deslizar a ortodoxia: segundo me contaram, o meu avô Pulido, que era professor de Medicina, disse o que devia com a devida brutalidade.
Os meus pais não romperam abruptamente com o partido. Como costumava suceder, o "afastamento" (uma palavra típica da Igreja) foi gradual. Tiveram as suas querelas políticas com o "controleiro" e discutiram com emissários da clandestinidade questões doutrinais. Cândida Ventura, por exemplo, ficava noites, se não a explicar, a justificar os desvarios da seita. Enquanto ela fumava cigarros russos (palavra de honra), a incomodidade dos meus pais crescia. Pouco a pouco, entraram num pequeno círculo de cépticos, que desconfiava da obediência estrita à "linha do partido". E, com o tempo, atrás da desconfiança veio o desprezo. Os santificados militantes da véspera desceram ao estatuto (aliás, realista) de gente ignorante e fanática; e os comunistas da legalidade, que fielmente seguiam a "orientação correcta", receberam o nome irrisório de "batatulinas" (suponho que por analogia com "batatudo", isto é, grosso, arredondado, em suma, estúpido).
Embora preso, "o Álvaro", como herói, morreu de facto nessa época e foi enterrado com as revelações de Khrushchev ao XX Congresso do Partido Comunista Russo, que apareceram logo lá em casa, em tradução francesa. Não se falava dele e, quando se falava, era para o lamentar. A fuga de Peniche e o Rumo à Vitória pertenceram já à história de Cunhal. O meu pai ainda leu (na "edição" da clandestinidade) o Rumo à Vitória, que declarou um "disparate". A minha mãe nem isso.
Houve, no entanto, uma despedida. A minha mãe foi ao aeroporto ver "o Álvaro", quando ele voltou a Portugal depois do "25 de Abril" e achou, não sei porquê, que ele estava mais magro.”
FJV
Sobre Cunhal:
"O melhor que se pode dizer de um homem de quem se discordava é que continuamos a discordar dele, mesmo depois da morte."
No Aviz.
"O melhor que se pode dizer de um homem de quem se discordava é que continuamos a discordar dele, mesmo depois da morte."
No Aviz.
segunda-feira, junho 13, 2005
Deixemo-nos de tretas
Oiço Guterres, o ex-engenheiro (?), afirmar, perante as câmaras (arrisco a paráfrase), que Cunhal foi um homem de «grande coerência» e de «convicções», como tal deve por todos ser «respeitado». Não há pior elogio fúnebre que o elogio idiota e inconsequente. Cunhal foi «coerente» e «convicto». E depois? Salvo as devidas proporções, Hitler foi coerente e convicto. Saloth Sar, mais conhecido por Pol Pot, também. Mao Tse Tung aussi. Estaline, então, nem se fala. Cunhal foi um homem coerente mas foi-o, quase sempre, pelas piores razões. É óbvio que foi uma figura «incontornável» da segunda metade do século XX português. Lamento a sua morte na exacta medida em que lamento a morte de qualquer ser humano. Fora isso, seria conveniente não aproveitar a oportunidade para branquear a História. Uma História que, por exemplo, Soares bem conhece. Uma história que Pacheco Pereira tratou de contar. Cunhal ficou muito aquém da figura benigna e simpática do velhinho idealista que toda a vida lutou pelos mais nobres ideais: da liberdade, da tolerância, da democracia, da justiça social. Cunhal foi um homem duro, implacável, maniqueísta e dogmático. Um homem que se deixou ultrapassar pela vida e pelo mundo, agarrado aos seus paradigmas e aos seus inúmeros fantasmas. Viveu amargurado os últimos anos da sua vida, gerindo mal a frustração de um «amanhã» nunca concretizado.
Para além da retórica desculpabilizante e indulgente das «boas intenções» e dos «melhores fins» - de que o mundo, como se sabe, está cheio, e que vem sempre à baila quando se fala do comunismo - Álvaro Cunhal lutou pela «sua» ideia de liberdade e pelo «seu» modelo «democrático». Apraz-me concluir que os seus ideais não vingaram em Portugal. Paz à sua alma.
Para além da retórica desculpabilizante e indulgente das «boas intenções» e dos «melhores fins» - de que o mundo, como se sabe, está cheio, e que vem sempre à baila quando se fala do comunismo - Álvaro Cunhal lutou pela «sua» ideia de liberdade e pelo «seu» modelo «democrático». Apraz-me concluir que os seus ideais não vingaram em Portugal. Paz à sua alma.
Finalmente a solo
A Zazie – a Zaziezinha do Pastilhas e do Janela Indiscreta – montou blogue: Cocanha. Bonito, ecleticamente caótico, provocador e imprevisível, o Cocanha aí está, carregadinho de referências do nosso contentamento.
Tomem nota, portanto. E reparem como nem o Dr. Miguel Beleza escapou ao olhar clínico da menina (diga-se, contudo, e em abono da verdade, que um Patek é um relógio, um Swatch não passa de uma tira de plástico com bonequinhos e montes de estilo e tal, para o qual já não há a mínima das paciências).
Tomem nota, portanto. E reparem como nem o Dr. Miguel Beleza escapou ao olhar clínico da menina (diga-se, contudo, e em abono da verdade, que um Patek é um relógio, um Swatch não passa de uma tira de plástico com bonequinhos e montes de estilo e tal, para o qual já não há a mínima das paciências).
quinta-feira, junho 09, 2005
Não ouvi e não gostei, Martim
Está-me cá a parecer que, pelo sururu em torno da coisa (já por aí dizem que são os novos U2.... argh!), vou detestar o último disco dos Coldplay. A pose de ‘nós-temos-muita-estilo’ de Martin e sus muchachos já disse quase tudo.
Em compensação, Mr. White está de volta. E, segundo consta, agora casado. Parece que a «maninha» Meg foi a dama de honor.

Em compensação, Mr. White está de volta. E, segundo consta, agora casado. Parece que a «maninha» Meg foi a dama de honor.

Este post não tem o patrocínio da BMW
A forma como no Terras do Nunca se regurgita preconceito e má-fé sobre certas matérias já não é pecha ou defeito: é característica. Ficámos agora a saber que JMF nutre um asco visceral por criaturas trintonas que, de gel na farta ou parca cabeleira, se passeiam por aí, lestos e em registo de deboche, ao volante de bê-émes.
Logo que os vislumbra, JMF subverte o velho e bonito there, but for the grace of God, go I, em “daqui, por graça de Deus ao volante do meu Punto, observo aqueles cagões que, fugindo aos impostos e/ou desbaratando os subsídios que era suposto aplicar nas empresas que desgraçadamente os albergaram como administradores, não se coíbem de pavonear o roubo sob a forma de um BMW e de um porção de brilhantina, a caminho da disco na 24 de Julho”.
A apoiar a boa da tese, as… estatísticas (só podia): em tempo de crise e recessão, o mês de Março de 2005 foi o menses mirabilis da BMW em Portugal. Conclusão brutal de insofismável: os vigaristas, os improdutivos e os párias andam a comprar neles. É esta a lógica estereotipada e retorcida que serve a virginal consciência de JMF e, de caminho, lhe conforta a alma perante a perspectiva de poder arrumar tudo e todos em compartimentos estanques e simplistas, que não exijam puxar pelos neurónios.
JMF não coloca, nem sequer academicamente, a hipótese de que o trintão do gel ganhou legitima e comprovadamente (pagando, inclusive, os seus impostos) os meios financeiros para adquirir a pronto o dito BMW. Ou que o nível de rendimentos do seu agregado familiar é suficiente para suportar a prestação do carro (há BMWs a partir de 6.000 contos e com prestações mensais inferiores a 100 contos). Não, o raciocínio de JMF passa pela já clássica checklist:
- É BMW?
- O gajo usa gel?
- Tem pinta de novo rico ou pato bravo?
- Resultado: vigarista.
Será Portugal um país assim tão atrasado e pobre que não seja capaz de albergar, pela via «legal» e honesta, gente suficientemente abastada para poder comprar, a pronto ou a crédito, um carro que nem sequer se pode considerar de luxo (e com isso pagar de impostos 30% do valor total da viatura)? É assim tão difícil encaixar a ideia de que o Portugal de hoje, ainda que atrasado e meio-saloio, não é o Portugal de há vinte anos atrás? Será assim tão difícil perceber que existem milhares de pessoas e famílias que, fruto do seu trabalho (por conta doutrem) ou das suas actividades lícitas, transparentes e legítimas (com todos os impostos pagos), acumularam dinheiro suficiente para comprar a porcaria de um BMW? Será que em Portugal tal cenário é inverosímil, restando apenas a velha caricatura de um país de ricos por herança ou de novos ricos por falcatruas e fuga aos impostos?
Lembro Maria Filomena Mónica:
“Apesar das dificuldades sentidas na transformação de uma sociedade abúlica num país de cidadãos e, sobretudo, na mudança de um Estado habituado a mandar despoticamente num poder obrigado a prestar contas, ninguém poderá negar os progressos feitos nas últimas décadas. Basta observar a situação da comunicação social, os produtos dos hipermercados, a maneira como se vestem os jovens. Portugal está em vias de se tornar numa sociedade aberta.
O mais importante não é tanto o sentido da evolução, partilhada com outros países, mas o ritmo a que tudo aconteceu. Com a provável excepção da Espanha, nenhum outro país europeu conseguiu liquidar o campesinato, alterar a taxa de fecundidade, mudar os padrões de consumo, diminuir a mortalidade infantil, instaurar o sufrágio universal, transformar as relações Estado-Igreja, criar uma classe média, abrir as fronteiras a pessoas e bens, escolarizar a população, liquidar um Império, à velocidade a que o fez Portugal. Na economia como nas almas, o País está irreconhecível.”
Portugal é hoje um país livre. Vivemos numa sociedade aberta. Cada qual gasta o que pode (e, em boa verdade, por vezes o que não pode) onde quiser. A decisão de comprar um BMW, viajar para as Maurícias ou dotar a empresa de viaturas topo de gama pertence a um domínio privado, sobre o qual ninguém tem o direito de se imiscuir. A não ser que JMF prove, factual e comprovadamente, que a maioria dos adquirentes de BMWs que usam gel foge aos impostos, desbarata o dinheiro que era suposto investir em prol das suas empresas (e neste particular, tratando-se de uma empresa privada, ninguém tem nada que ver com isso) ou abre e fecha empresas por dá cá aquela palha, gostaria que ele explicasse que autoridade e moralidade são as suas para comentar, criticando, o facto do Zé Manel da brilhantina esbanjar o seu dinheirinho na porcaria de um BMW. “Ah, mas vê-se logo, pela pinta, que fugiu aos impostos!”. Não vejo por que razão se tem de partir do princípio de que quem o faz é vigarista, salafrário, negligente na sua actividade ou fugitivo do fisco. Para além de se tratar de um exercício de presunção e moralismo, parece-me um mau princípio comentar a vida, os comportamentos ou as opções de cada qual com base em suposições que de concreto só parecem ter dose e meia de preconceito aliada a uma hipotética (será?) má consciência.
Quem sou eu, ou quem se julga JMF, para automaticamente julgar o tipo que parou no semáforo ao volante de um BMW? Só porque tem má pinta? Por causa do gel? Do relógio de ouro? Só porque se convencionou que o BMW é carro de pato bravo, de vigarista ou parasita? Qual é o critério, ou a prova, que leva JMF a pressupor que, na generalidade, quem compra um BMW e usa gel foge aos impostos? Por estarmos em crise não era suposto poder comprar-se um BMW? Porquê? Por que razão, ao fim destes anos todos, uma certa esquerda continua a fazer uso de certas caricaturas ridículas e permanece agarrada a estereótipos avarentos de carácter ideológico? Obstipação intelectual? Gozo especial é ser preconceituoso?
Não é com insinuações persecutórias e julgamentos aprioristicos parciais que vamos lá. JMF devia deixar os condutores dos bê-émes em paz – até porque esse encanitamento diário não lhe fará bem à saúde - e interessar-se mais por outras «evidências». Se, por exemplo, a Administração Fiscal está a fazer o seu trabalho a tempo e horas; se o está a fazer com eficácia, ou seja, cruzando um amplo conjunto de informações que já hoje lhe são disponibilizadas; se o está a fazer com total respeito pelos direitos e garantias que a todos dizem respeito – quer se conduza um bê-éme, um Panda ou um Trabant; e por aí fora.
PS: Sr. JMF: não o mandei à "merda"(sic) coisíssima nenhuma. Quando disse que “já o atendia” estava a falar a verdade. Como vê, só hoje tive tempo para concluir a resposta, começada ontem e guardada em draft, às suas sempre benignas e saudáveis provocações. Não vá, portanto, à "merda".
Logo que os vislumbra, JMF subverte o velho e bonito there, but for the grace of God, go I, em “daqui, por graça de Deus ao volante do meu Punto, observo aqueles cagões que, fugindo aos impostos e/ou desbaratando os subsídios que era suposto aplicar nas empresas que desgraçadamente os albergaram como administradores, não se coíbem de pavonear o roubo sob a forma de um BMW e de um porção de brilhantina, a caminho da disco na 24 de Julho”.
A apoiar a boa da tese, as… estatísticas (só podia): em tempo de crise e recessão, o mês de Março de 2005 foi o menses mirabilis da BMW em Portugal. Conclusão brutal de insofismável: os vigaristas, os improdutivos e os párias andam a comprar neles. É esta a lógica estereotipada e retorcida que serve a virginal consciência de JMF e, de caminho, lhe conforta a alma perante a perspectiva de poder arrumar tudo e todos em compartimentos estanques e simplistas, que não exijam puxar pelos neurónios.
JMF não coloca, nem sequer academicamente, a hipótese de que o trintão do gel ganhou legitima e comprovadamente (pagando, inclusive, os seus impostos) os meios financeiros para adquirir a pronto o dito BMW. Ou que o nível de rendimentos do seu agregado familiar é suficiente para suportar a prestação do carro (há BMWs a partir de 6.000 contos e com prestações mensais inferiores a 100 contos). Não, o raciocínio de JMF passa pela já clássica checklist:
- É BMW?
- O gajo usa gel?
- Tem pinta de novo rico ou pato bravo?
- Resultado: vigarista.
Será Portugal um país assim tão atrasado e pobre que não seja capaz de albergar, pela via «legal» e honesta, gente suficientemente abastada para poder comprar, a pronto ou a crédito, um carro que nem sequer se pode considerar de luxo (e com isso pagar de impostos 30% do valor total da viatura)? É assim tão difícil encaixar a ideia de que o Portugal de hoje, ainda que atrasado e meio-saloio, não é o Portugal de há vinte anos atrás? Será assim tão difícil perceber que existem milhares de pessoas e famílias que, fruto do seu trabalho (por conta doutrem) ou das suas actividades lícitas, transparentes e legítimas (com todos os impostos pagos), acumularam dinheiro suficiente para comprar a porcaria de um BMW? Será que em Portugal tal cenário é inverosímil, restando apenas a velha caricatura de um país de ricos por herança ou de novos ricos por falcatruas e fuga aos impostos?
Lembro Maria Filomena Mónica:
“Apesar das dificuldades sentidas na transformação de uma sociedade abúlica num país de cidadãos e, sobretudo, na mudança de um Estado habituado a mandar despoticamente num poder obrigado a prestar contas, ninguém poderá negar os progressos feitos nas últimas décadas. Basta observar a situação da comunicação social, os produtos dos hipermercados, a maneira como se vestem os jovens. Portugal está em vias de se tornar numa sociedade aberta.
O mais importante não é tanto o sentido da evolução, partilhada com outros países, mas o ritmo a que tudo aconteceu. Com a provável excepção da Espanha, nenhum outro país europeu conseguiu liquidar o campesinato, alterar a taxa de fecundidade, mudar os padrões de consumo, diminuir a mortalidade infantil, instaurar o sufrágio universal, transformar as relações Estado-Igreja, criar uma classe média, abrir as fronteiras a pessoas e bens, escolarizar a população, liquidar um Império, à velocidade a que o fez Portugal. Na economia como nas almas, o País está irreconhecível.”
Portugal é hoje um país livre. Vivemos numa sociedade aberta. Cada qual gasta o que pode (e, em boa verdade, por vezes o que não pode) onde quiser. A decisão de comprar um BMW, viajar para as Maurícias ou dotar a empresa de viaturas topo de gama pertence a um domínio privado, sobre o qual ninguém tem o direito de se imiscuir. A não ser que JMF prove, factual e comprovadamente, que a maioria dos adquirentes de BMWs que usam gel foge aos impostos, desbarata o dinheiro que era suposto investir em prol das suas empresas (e neste particular, tratando-se de uma empresa privada, ninguém tem nada que ver com isso) ou abre e fecha empresas por dá cá aquela palha, gostaria que ele explicasse que autoridade e moralidade são as suas para comentar, criticando, o facto do Zé Manel da brilhantina esbanjar o seu dinheirinho na porcaria de um BMW. “Ah, mas vê-se logo, pela pinta, que fugiu aos impostos!”. Não vejo por que razão se tem de partir do princípio de que quem o faz é vigarista, salafrário, negligente na sua actividade ou fugitivo do fisco. Para além de se tratar de um exercício de presunção e moralismo, parece-me um mau princípio comentar a vida, os comportamentos ou as opções de cada qual com base em suposições que de concreto só parecem ter dose e meia de preconceito aliada a uma hipotética (será?) má consciência.
Quem sou eu, ou quem se julga JMF, para automaticamente julgar o tipo que parou no semáforo ao volante de um BMW? Só porque tem má pinta? Por causa do gel? Do relógio de ouro? Só porque se convencionou que o BMW é carro de pato bravo, de vigarista ou parasita? Qual é o critério, ou a prova, que leva JMF a pressupor que, na generalidade, quem compra um BMW e usa gel foge aos impostos? Por estarmos em crise não era suposto poder comprar-se um BMW? Porquê? Por que razão, ao fim destes anos todos, uma certa esquerda continua a fazer uso de certas caricaturas ridículas e permanece agarrada a estereótipos avarentos de carácter ideológico? Obstipação intelectual? Gozo especial é ser preconceituoso?
Não é com insinuações persecutórias e julgamentos aprioristicos parciais que vamos lá. JMF devia deixar os condutores dos bê-émes em paz – até porque esse encanitamento diário não lhe fará bem à saúde - e interessar-se mais por outras «evidências». Se, por exemplo, a Administração Fiscal está a fazer o seu trabalho a tempo e horas; se o está a fazer com eficácia, ou seja, cruzando um amplo conjunto de informações que já hoje lhe são disponibilizadas; se o está a fazer com total respeito pelos direitos e garantias que a todos dizem respeito – quer se conduza um bê-éme, um Panda ou um Trabant; e por aí fora.
PS: Sr. JMF: não o mandei à "merda"(sic) coisíssima nenhuma. Quando disse que “já o atendia” estava a falar a verdade. Como vê, só hoje tive tempo para concluir a resposta, começada ontem e guardada em draft, às suas sempre benignas e saudáveis provocações. Não vá, portanto, à "merda".
quarta-feira, junho 08, 2005
Borges e o optimismo
Diário da República:
Sim, são de louvar algumas medidas. Já aqui o escrevi. Partindo do pressuposto de que António Borges não estava a ironizar, a grande diferença é que eu sou um pessimista e Borges um optimista. Explico porquê.
Em primeiro lugar, as continhas de Sócrates têm por base níveis de crescimento económico que me parecem demasiado optimistas. Algures alguém se esqueceu de medir o efeito de algumas das medidas agora anunciadas (por exemplo, o aumento da carga fiscal) sobre o próprio crescimento económico.
Em segundo lugar, é precisamente uma expressão de António Borges – a de que o “consumo público quase não sobe” - que me separa, em definitivo, da sua análise rosácea. Borges fica satisfeito por verificar que o Consumo Público quase não sobe. Que bom? Que nada! O Consumo Público devia descer e não «quase não» subir. Dizer isto não é «fazer oposição». É apenas constatar que ao «quase não subir» o «Monstro» não vai sofrer de subnutrição. Pelo contrário: vai gozar de boa saúde. Não nos podemos esquecer que o Estado suga cerca de 25% para consumo próprio (o chamado Consumo Público, ou seja, o custo de funcionamento da máquina). Não vi anunciadas quaisquer medidas concretas tendentes a: a) racionalizar e simplificar os inúmeros serviços do Estado (as hemorragias do desperdício estão por estancar); b) suprimir muitos dos organismos e institutos públicos que pouco ou nada adiantam ao país (por obsolência, sobreposição de competências ou mera «incapacidade técnica»); c) fomentar o outsourcing, não sem antes acabar com os vícios, negociatas e palhaçadas que lhe têm dado mau nome; d) abandonar a meio-patetinha e supostamente salvífica regra do ‘saem dois, entra um” (nalguns casos, por que não saírem dez e não entrar nenhum?); e por aí fora.
Sim, claro: são de louvar algumas medidas. Mas ainda ninguém me conseguiu tirar a desconfortável sensação de que muita coisa ficou por fazer. De que a montanha pariu um rato. Ainda ninguém me convenceu que as «grandes» medidas - as medidas de fundo, «estruturais» - foram tomadas. Lacuna devida e ordeiramente tapada pelo tradicional e facílimo aumento de impostos sobre os desgraçados de sempre, para reequilíbrio de contas e disfarce de buracos.
Sim, são de louvar algumas medidas. Já aqui o escrevi. Partindo do pressuposto de que António Borges não estava a ironizar, a grande diferença é que eu sou um pessimista e Borges um optimista. Explico porquê.
Em primeiro lugar, as continhas de Sócrates têm por base níveis de crescimento económico que me parecem demasiado optimistas. Algures alguém se esqueceu de medir o efeito de algumas das medidas agora anunciadas (por exemplo, o aumento da carga fiscal) sobre o próprio crescimento económico.
Em segundo lugar, é precisamente uma expressão de António Borges – a de que o “consumo público quase não sobe” - que me separa, em definitivo, da sua análise rosácea. Borges fica satisfeito por verificar que o Consumo Público quase não sobe. Que bom? Que nada! O Consumo Público devia descer e não «quase não» subir. Dizer isto não é «fazer oposição». É apenas constatar que ao «quase não subir» o «Monstro» não vai sofrer de subnutrição. Pelo contrário: vai gozar de boa saúde. Não nos podemos esquecer que o Estado suga cerca de 25% para consumo próprio (o chamado Consumo Público, ou seja, o custo de funcionamento da máquina). Não vi anunciadas quaisquer medidas concretas tendentes a: a) racionalizar e simplificar os inúmeros serviços do Estado (as hemorragias do desperdício estão por estancar); b) suprimir muitos dos organismos e institutos públicos que pouco ou nada adiantam ao país (por obsolência, sobreposição de competências ou mera «incapacidade técnica»); c) fomentar o outsourcing, não sem antes acabar com os vícios, negociatas e palhaçadas que lhe têm dado mau nome; d) abandonar a meio-patetinha e supostamente salvífica regra do ‘saem dois, entra um” (nalguns casos, por que não saírem dez e não entrar nenhum?); e por aí fora.
Sim, claro: são de louvar algumas medidas. Mas ainda ninguém me conseguiu tirar a desconfortável sensação de que muita coisa ficou por fazer. De que a montanha pariu um rato. Ainda ninguém me convenceu que as «grandes» medidas - as medidas de fundo, «estruturais» - foram tomadas. Lacuna devida e ordeiramente tapada pelo tradicional e facílimo aumento de impostos sobre os desgraçados de sempre, para reequilíbrio de contas e disfarce de buracos.
Comunicado do Governo Civil de Évora
O Governo Civil de Évora informa que o resultado do concurso “Arrebitem-me o meter”, promovido pelo blogue Contra a Corrente, cujo licenciamento foi deferido a 30 de Abril do corrente ano, foi considerado nulo.
O representante do Governo Civil de Évora, Sr. Saturnino Sardinha, aferiu do incumprimento do critério conducente à atribuição dos prémios em jogo – um DVD e um livro –, uma vez que à meia-noite de quinta-feira, dia 2 de Outubro, não foram atingidas as 200.000 visitas no supracitado blogue.
Tome nota, escrivão Francisco. E, já agora, publique.
O representante do Governo Civil de Évora, Sr. Saturnino Sardinha, aferiu do incumprimento do critério conducente à atribuição dos prémios em jogo – um DVD e um livro –, uma vez que à meia-noite de quinta-feira, dia 2 de Outubro, não foram atingidas as 200.000 visitas no supracitado blogue.
Tome nota, escrivão Francisco. E, já agora, publique.
segunda-feira, junho 06, 2005
“Sempre assim foi”
Indignado, o povo perdeu o apetite face ao sórdido «esquema» de um Sr. Ministro acumular reforma do Banco de Portugal (por lá ter andado a picar o ponto ao longo de cinco anos) com ordenado de ministro. E, horror dos horrores, tudo de forma legal e, como é agora moda dizer-se, «legítima». Como é possível? Como bem lembrou Vasco Pulido Valente (transcrevo o artigo mais à frente), este episódio insere-se na longa e milenar lista de «reformas», «comissões», «benesses» e «expedientes» que o Estado sempre apadrinhou, promoveu e pagou aos seus mais dilectos e distintos servidores – os quais, de tempos a tempos, prestam ao país e ao common good serviços inestimáveis em cargos de «desgaste rápido». De quando em vez, a moral e a ética republicanas vêm à baila perante tais descriminações «positivas» e, com elas, a bendita indignação colectiva. Sempre assim foi? Sim: sempre foi assim. Tudo, aliás, continua a ser «assim». Da mesma forma que as «medidas» se limitam a varrer um pouco da sujidade (boa parte para debaixo do tapete), esta questiúncula é apenas a ponta do icebergue. Por detrás da dita jaz um Estado Providência que a todos quer chegar e de que todos esperam um dia retirar uma «benesse» ou o salvifico vínculo (“ai o meu Zé agora está muito bem: já tem um vinculo na função pública”). A novela do ministro que já-agora-como-é-tudo-legal-e-legítimo-pode-ser-que-passe-que-eu-não-estou-para-pagar-a-crise é só uma a somar a milhares de outras, de igual ou diferente natureza ou proporção. A uni-las encontramos essa entidade omnipresente e omnipotente que se confunde e funde com nós próprios – o país parece ser o Estado, e vice-versa - e da qual esperamos apoio, solidariedade e, porque não, amor, independentemente de estarmos ou não necessitados. É porque tem de ser. É porque é «legal». É porque o vizinho também conseguiu.
São, por isso, de louvar algumas medidas agora enunciadas. Só que, como é apanágio de todos os governos em Portugal, está visto que vamos ficar a meio caminho. Ou, como agora se diz, a armada Sócrates vai “morrer na praia”.
Sempre foi assim
por VASCO PULIDO VALENTE in Público
“O sr. ministro das Finanças recebe uma reforma de 8.000 euros por mês do Banco de Portugal, onde trabalhou meia dúzia de anos; reforma que acumula com o seu ordenado de ministro (bastante mais modesto) e que ele considera um "direito adquirido". O sr. ministro Mário Lino (Obras Públicas) recebe duas reformas, uma do IPE e outra da Segurança Social, à volta de 6.000 euros, que também acumula com o seu ordenado de ministro e provavelmente também acha um "direito adquirido". Perante isto, como de costume, a inveja portuguesa berrou logo pela "moral" e a "ética" e teve o seu obrigatório ataque de indignação. A indignação, ao que parece, alivia. Mas não explica e era, já agora, conveniente perceber por que razões dois cavalheiros honestíssimos fazem estas coisas sem um sobressalto.
Vi há pouco tempo o sr. ministro das Finanças na televisão, justificando as "medidas" que tomou e as que vai tomar. Muito eficiente e preciso lá foi dando o seu recado: põe aqui, tira ali, rapa acolá. Em mais de uma hora de conversa, nunca se falou da sociedade portuguesa - da sua história, da sua formação, da sua natureza - como nunca se falou do Estado parasitário e providencial, que sufoca o país. De toda a evidência, para o sr. ministro a crise não passa de um pequeno problema de corte e costura. Quem chegasse de Sirius não percebia com certeza que se tratava de Portugal. O sr. ministro é um funcionário, um contabilista qualificado, que o eng. Sócrates destacou para aquele lugar e que tenta "cumprir" com ciência e zelo. E, pelo que sei dele, o sr. Mário Lino não deve ser diferente. Ora, se a um verdadeiro político poderia ocorrer que não se está no governo com uma pensão de reforma, um funcionário naturalmente não acha que uma "comissão de serviço", seja ela no governo, altere, e muito menos prejudique, os direitos que adquiriu. Nada a criticar, excepto, claro, a maneira como se escolhem ministros.
De resto, se este caso se tornou conspícuo, na essência não sai da regra universal da protecção corporativa. O Banco de Portugal e o IPE tomam carinhosamente conta dos seus, como tomam milhares de outras corporações, do ensino ao futebol e do público ao privado, sem o mais leve protesto de ninguém. Vivemos no reino dos compadres. Nem o sr. ministro das Finanças, nem o sr. Mário Lino se desviaram do padrão consagrado. Que esse padrão em grande parte contribui para conservar o país na miséria e no caos, não se discute. Mas sempre foi assim.”
São, por isso, de louvar algumas medidas agora enunciadas. Só que, como é apanágio de todos os governos em Portugal, está visto que vamos ficar a meio caminho. Ou, como agora se diz, a armada Sócrates vai “morrer na praia”.
Sempre foi assim
por VASCO PULIDO VALENTE in Público
“O sr. ministro das Finanças recebe uma reforma de 8.000 euros por mês do Banco de Portugal, onde trabalhou meia dúzia de anos; reforma que acumula com o seu ordenado de ministro (bastante mais modesto) e que ele considera um "direito adquirido". O sr. ministro Mário Lino (Obras Públicas) recebe duas reformas, uma do IPE e outra da Segurança Social, à volta de 6.000 euros, que também acumula com o seu ordenado de ministro e provavelmente também acha um "direito adquirido". Perante isto, como de costume, a inveja portuguesa berrou logo pela "moral" e a "ética" e teve o seu obrigatório ataque de indignação. A indignação, ao que parece, alivia. Mas não explica e era, já agora, conveniente perceber por que razões dois cavalheiros honestíssimos fazem estas coisas sem um sobressalto.
Vi há pouco tempo o sr. ministro das Finanças na televisão, justificando as "medidas" que tomou e as que vai tomar. Muito eficiente e preciso lá foi dando o seu recado: põe aqui, tira ali, rapa acolá. Em mais de uma hora de conversa, nunca se falou da sociedade portuguesa - da sua história, da sua formação, da sua natureza - como nunca se falou do Estado parasitário e providencial, que sufoca o país. De toda a evidência, para o sr. ministro a crise não passa de um pequeno problema de corte e costura. Quem chegasse de Sirius não percebia com certeza que se tratava de Portugal. O sr. ministro é um funcionário, um contabilista qualificado, que o eng. Sócrates destacou para aquele lugar e que tenta "cumprir" com ciência e zelo. E, pelo que sei dele, o sr. Mário Lino não deve ser diferente. Ora, se a um verdadeiro político poderia ocorrer que não se está no governo com uma pensão de reforma, um funcionário naturalmente não acha que uma "comissão de serviço", seja ela no governo, altere, e muito menos prejudique, os direitos que adquiriu. Nada a criticar, excepto, claro, a maneira como se escolhem ministros.
De resto, se este caso se tornou conspícuo, na essência não sai da regra universal da protecção corporativa. O Banco de Portugal e o IPE tomam carinhosamente conta dos seus, como tomam milhares de outras corporações, do ensino ao futebol e do público ao privado, sem o mais leve protesto de ninguém. Vivemos no reino dos compadres. Nem o sr. ministro das Finanças, nem o sr. Mário Lino se desviaram do padrão consagrado. Que esse padrão em grande parte contribui para conservar o país na miséria e no caos, não se discute. Mas sempre foi assim.”
Romeo is bleeding
Tom Waits na jukebox. Aconselha-se colocar o volume perto do máximo.
Romeo is bleeding
Romeo is bleeding but not so as you'd notice
He's over on 18th street as usual
Lookin' so hard against the hood of his car
And puttin' out a cigarette in his hand
And for all the pachucos at the pumps
At Romero's Paint and Body
They all seein'how far they can spit
Well it was just another night
But now they're huddled in the brake lights of a 58 Belair
And listenin'to how Romeo killed a sherif with his knife
And they all jump when they hear the sirens
But Romeo just laughs and says
All the racket in the world
Ain't never gonna save that copper's ass
He'll never see another summertime
For gunnin'down my brother
And leavin'him like a dog beneath a car without his knife
And Romeo says hey man, gimme a cigarette
And they all reach for their pack
And Frankie lights it for him and pats him on the back
And throws a bottle at a milk truck
And as it breaks he grabs his nuts
And they all know they could be just like Romeo
If they only had the guts
But Romeo is bleeding but nobody can tell
He sings along with the radio
With a bullet in his chest
And he combs back his fenders
And they all agree it's clear
That everything is cool now that Romeo's here
But Romeo is bleeding
And he winces now and then
And he leans against the car door
And feels the blood in his shoes
And someone's crying in the phone booth
At the Five Points points by the store
Romeo starts his engine
And wipes the blood of the door
And he brodys through the signal
With the radio full blast
Leavin'the boys there hikin'up their chinos
And they all try to stand like Romeo
Beneath the moon cut like a sickle
And they're talkin'now in spanish about their hero
But Romeo is bleeding as he gives the man his ticket
And he climbs to the balcony at the movies
And he'll die without a whisper
Like every hero's dream
Just an angel with a bullet
and Cagney in the screen
Romeo is bleeding
Romeo is bleeding but not so as you'd notice
He's over on 18th street as usual
Lookin' so hard against the hood of his car
And puttin' out a cigarette in his hand
And for all the pachucos at the pumps
At Romero's Paint and Body
They all seein'how far they can spit
Well it was just another night
But now they're huddled in the brake lights of a 58 Belair
And listenin'to how Romeo killed a sherif with his knife
And they all jump when they hear the sirens
But Romeo just laughs and says
All the racket in the world
Ain't never gonna save that copper's ass
He'll never see another summertime
For gunnin'down my brother
And leavin'him like a dog beneath a car without his knife
And Romeo says hey man, gimme a cigarette
And they all reach for their pack
And Frankie lights it for him and pats him on the back
And throws a bottle at a milk truck
And as it breaks he grabs his nuts
And they all know they could be just like Romeo
If they only had the guts
But Romeo is bleeding but nobody can tell
He sings along with the radio
With a bullet in his chest
And he combs back his fenders
And they all agree it's clear
That everything is cool now that Romeo's here
But Romeo is bleeding
And he winces now and then
And he leans against the car door
And feels the blood in his shoes
And someone's crying in the phone booth
At the Five Points points by the store
Romeo starts his engine
And wipes the blood of the door
And he brodys through the signal
With the radio full blast
Leavin'the boys there hikin'up their chinos
And they all try to stand like Romeo
Beneath the moon cut like a sickle
And they're talkin'now in spanish about their hero
But Romeo is bleeding as he gives the man his ticket
And he climbs to the balcony at the movies
And he'll die without a whisper
Like every hero's dream
Just an angel with a bullet
and Cagney in the screen
quinta-feira, junho 02, 2005
Grande concurso "Arrebitem-me o meter"(*)
Se o contador do sitemeter ultrapassar as 200.000 visitas até à meia-noite de quinta-feira (às 00:00 horas de hoje, quinta-feira, registava 199.522 visitas), ofereço um DVD e um livro ao primeiro e segundo leitor, respectivamente, que me mandar um mail após as badaladas da meia-noite de quinta-feira (00:00 horas de sexta).
PS: Sim, biltre, guerra é guerra!
_________________
(*) cuidado aí com as piadinhas.
PS: Sim, biltre, guerra é guerra!
_________________
(*) cuidado aí com as piadinhas.
quarta-feira, junho 01, 2005
Do 'Non'...
...passámos para o 'Nee' (que rima com o balir das ovelhas). Provavelmente, seguir-se-á o 'No'. Há que insistir, há que insistir...


Leonor: bem-vinda!
Como se diz por aqui, no Alentejo, a Papoilinha já mandou cá para fora a Nônô. Cá fora, suponho, terá chorado baba e ranho, perante o embate de se ver nascida num Portugal catatónico. Mas nada que o colinho da mamã e do papá (este após rápida recuperação de uma síncope) não tenha logo logo resolvido.
Parabéns a todos. Felicidades à Nô… Leonor! (ok, eu prometo evitar o uso de diminutivos).
Parabéns a todos. Felicidades à Nô… Leonor! (ok, eu prometo evitar o uso de diminutivos).
Nada de novo, no reino da Dinamarca
Ainda vou a tempo de comentar as medidas de Sócrates?
Não esperava muito de Sócrates nem dos seus ministros - os tais que, como nos explicou o senador Freitas, pelo seu carisma e gabarito provocam destempero intestinal por via da cobiça e da inveja. Mas esperava, como aqui escrevi, um mínimo de inteligência política face à inevitabilidade de solucionar os problemas estruturais do país. Confesso, agora, que fiquei atónito face a tamanha vacuidade, senilidade e falta de coragem política. As «medidas» de Sócrates revelaram um homem «velho», preso a paradigmas «velhos» e a uma retórica estafada. Algumas medidas positivas (elementares, como as referentes à reforma dos funcionários públicos e à progressão automática, mas inócuas a curto prazo) foram relegadas para segundo plano pela mega-incapacidade de não (querer?) atacar o cerne do problema. Sócrates pegou na cartilha e na fatiota socialistas e anunciou mais ou menos isto:
1) Não melindrar a Despesa Pública, mais concretamente o Consumo Público. O modelo actual é para manter. Qualquer esforço reformista para esquecer. São muitas as bocas e sub-bocas que se alimentam das excreções e secreções do «monstro». Let Sleeping Dogs Lie;
2) Alimentar, e aumentar, se possível, o Estado Social, pelo menos tal como o conhecemos há mais de vinte anos, agravando, para o efeito, os impostos da praxe (os quais, supostamente, deveriam ajudar a diminuir o défice, mas que, à falta das verdadeiras reformas, mais tarde ou mais cedo serão sugados pelo já referido «monstro»);
3) Afrontar emblemática e heroicamente os «ricos» - os tais do gel e do BMW, que se passeiam por aí sem fazer nada – por via de um mecanismo meio pidesco e totalmente inconsequente (publicitação dos rendimentos da malta), e, claro está, pela criação de um novo escalão de IRS a que belamente se poderia chamar “Os ricos? Eu já os lixo!”
E pouco, muito pouco mais. Vai tudo ficar na mesma? No essencial sim. Mas há coisas que vão mudar. Estas medidas vão ajudar a estagnar ainda mais o crescimento económico, a promover a economia paralela e a prejudicar fortemente a competitividade da economia portuguesa, sufocada que está por uma burocracia atroz, legislação anacrónica e uma carga fiscal que «só» nos põe a milhas dos mercados mais próximos, que são quase todos por via da globalização. Lembremo-nos que a gasolina e o gasóleo em Espanha são estupidamente mais baratos e que a taxa máxima de IVA é de 16%. Lembremo-nos dos «novos» países da UE: dinâmicos, com vontade de trabalhar e de arriscar, sem medos ou pruridos ideológicos.
Em boa verdade, boa parte das medidas de Sócrates fazem cumprir o seu designio ideológico, apoiado no senso comum do povo: 1) os ricos, os empresários e os investidores (em geral e os da «bolsa», em particular), não passam de vigaristas mais ou menos encartados que só têm de pagar a crise; 2) o Estado – entidade racionalista, justa e solidária, empregador preferencial e paizinho de todos nós - irá garantir a boa da vidinha e o bom do futuro.
Nada de novo, portanto. As velhas e fáceis soluções para os velhos e mais complicados problemas. Deste governo pode esperar-se tudo. Tudo menos um rasgo de inovação, criatividade e coragem política.
Não esperava muito de Sócrates nem dos seus ministros - os tais que, como nos explicou o senador Freitas, pelo seu carisma e gabarito provocam destempero intestinal por via da cobiça e da inveja. Mas esperava, como aqui escrevi, um mínimo de inteligência política face à inevitabilidade de solucionar os problemas estruturais do país. Confesso, agora, que fiquei atónito face a tamanha vacuidade, senilidade e falta de coragem política. As «medidas» de Sócrates revelaram um homem «velho», preso a paradigmas «velhos» e a uma retórica estafada. Algumas medidas positivas (elementares, como as referentes à reforma dos funcionários públicos e à progressão automática, mas inócuas a curto prazo) foram relegadas para segundo plano pela mega-incapacidade de não (querer?) atacar o cerne do problema. Sócrates pegou na cartilha e na fatiota socialistas e anunciou mais ou menos isto:
1) Não melindrar a Despesa Pública, mais concretamente o Consumo Público. O modelo actual é para manter. Qualquer esforço reformista para esquecer. São muitas as bocas e sub-bocas que se alimentam das excreções e secreções do «monstro». Let Sleeping Dogs Lie;
2) Alimentar, e aumentar, se possível, o Estado Social, pelo menos tal como o conhecemos há mais de vinte anos, agravando, para o efeito, os impostos da praxe (os quais, supostamente, deveriam ajudar a diminuir o défice, mas que, à falta das verdadeiras reformas, mais tarde ou mais cedo serão sugados pelo já referido «monstro»);
3) Afrontar emblemática e heroicamente os «ricos» - os tais do gel e do BMW, que se passeiam por aí sem fazer nada – por via de um mecanismo meio pidesco e totalmente inconsequente (publicitação dos rendimentos da malta), e, claro está, pela criação de um novo escalão de IRS a que belamente se poderia chamar “Os ricos? Eu já os lixo!”
E pouco, muito pouco mais. Vai tudo ficar na mesma? No essencial sim. Mas há coisas que vão mudar. Estas medidas vão ajudar a estagnar ainda mais o crescimento económico, a promover a economia paralela e a prejudicar fortemente a competitividade da economia portuguesa, sufocada que está por uma burocracia atroz, legislação anacrónica e uma carga fiscal que «só» nos põe a milhas dos mercados mais próximos, que são quase todos por via da globalização. Lembremo-nos que a gasolina e o gasóleo em Espanha são estupidamente mais baratos e que a taxa máxima de IVA é de 16%. Lembremo-nos dos «novos» países da UE: dinâmicos, com vontade de trabalhar e de arriscar, sem medos ou pruridos ideológicos.
Em boa verdade, boa parte das medidas de Sócrates fazem cumprir o seu designio ideológico, apoiado no senso comum do povo: 1) os ricos, os empresários e os investidores (em geral e os da «bolsa», em particular), não passam de vigaristas mais ou menos encartados que só têm de pagar a crise; 2) o Estado – entidade racionalista, justa e solidária, empregador preferencial e paizinho de todos nós - irá garantir a boa da vidinha e o bom do futuro.
Nada de novo, portanto. As velhas e fáceis soluções para os velhos e mais complicados problemas. Deste governo pode esperar-se tudo. Tudo menos um rasgo de inovação, criatividade e coragem política.








